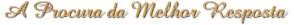RUA DO ADOLESCENTE
“Então um lavrador disse: fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: Vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra.”
Kalil Gibran Kalil
O trabalho me chamou aos doze anos de idade, quando a vida ainda era uma brincadeira para mim, mesmo a necessidade que eu tinha de ganhá-la. Mas eu não fui trabalhar por motivos tão poéticos como aqueles sugeridos pelo poema do Gibran, mas sim para atender aos constantes rogos do meu estômago, que não se contentava com as parcas refeições que a magreza do nosso orçamento familiar conseguia comprar.
Ainda assim descobri que o trabalho não tinha nada de castigo, como a Bíblia parecia sugerir (ganhareis o pão de cada dia com o suor do vosso rosto – Gênesis, 7;23). Vi que o trabalho não trazia nenhum constrangimento, mas sim uma liberdade que eu não conseguia sentir nas ruas. Que havia um respeito e uma dignidade na pessoa que trabalha e ganha o pão com o suor do próprio rosto que não se podia encontrar num homem que vivesse exclusivamente de rendas por ele não produzidas, ainda que elas fossem as mais substanciosas possíveis.
Depois do meu primeiro dia de trabalho e da respiração ampla que isso me produzia deixei de admirar os velhos malandros que eu conhecia, sujeitos capazes de viver numa boa sem trabalhar.
Meus amigos os tinham em alta conta. Vestiam-se bem, eram bons de briga, saiam nas escolas de samba e invariavelmente jogavam futebol muito bem. Ao invés, me vi admirando o espírito empreendedor daquele que, munido de um sonho por mapa e uma vontade férrea como motor saia em busca de uma estrela, por mais longe que ela parecesse estar. Meu herói desses dias era o Yancey, caubói do romance homônimo Cimarron, livro de Edna Ferber, que representava o protótipo do pioneiro que desbravou o Velho Oeste americano.
Havia uma frase que eu lera em algum almanaque, que também me impressionara muito. Ela dizia que a pior coisa que a igreja católica tinha criado era a figura de um anjo com asas, por que não era com asas que se chegava aos céus, mas com as mãos. Quer dizer, com trabalho. E era assim mesmo que eu me sentia ─ um anjo ─ quando passava pela velha rua São Luiz, carregando aquele enorme molho de chaves que servia para abrir o escritório onde eu estava trabalhando. As pessoas olhavam para mim, aquele menino tão pequeno ─ tão pequeno e já trabalha ─ diziam elas, e eu me enchia de tanto orgulho que a velha rua parecia estreita demais para conter o meu peito inchado. Eu trabalhava sim.
PRIMEIRO EMPREGO
“Meu primeiro emprego foi como office-boy
Na firma de Steiner e Guedes, materiais de construção.
Entregava recados, limpava salas, atendia telefone.
Praça Firmina Santana, em cima do Café Michel.
Quatro andares de janelas abertas para a avenida principal.
Da sacada do primeiro andar olhava as Lojas Renner
De onde o meu sonho saia de roupa e sapatos novos
Para pegar uma matiné no Cine Urupema.
A velha rodoviária parecia uma barcaça ancorada.
O Jorge Salomão, único espigão da cidade,
Parecia um farol com o letreiro do Café Seleto em cima.
Na Discolândia o Agostinho Soto
Vendia discos de Tonico e Tinoco.
Ismael Alves dos Santos ─ Contador
Fazia as contas de todos os VIPS da cidade.”
SUBÚRBIO DA CENTRAL
Steiner e Guedes me deram as contas depois de um ano porque eu dormia no serviço. Mas não era verdade. Eu não dormia, só sonhava. Sonhava com os países que eu via no mapa-mundi, sonhava com ganhar dinheiro para comprar a casa do Capitão Manuel Rudge, o seu Manequinho, que eu achava a mais bonita casa da cidade, aquela mansão imponente da rua Santana, onde morava o Gilvan, nosso colega de peladas. Sonhava ficar rico para poder casar com a Samira, filha do Waldemar. Ao invés disso fiquei desempregado.
Mas então descobri a Central do Brasil. Principalmente descobri que vender canudinhos de coco, quebra-queixo, amendoins, paçoquinhas, jujubas e outras guloseimas naqueles trens que iam de Mogi até o Brás, além de uma boa desculpa para passar o dia inteiro na rua, era um modo bastante divertido de ganhar dinheiro, mais até do que ganhava trabalhando regularmente para Steiner e Guedes.
Eu conhecia cada poste, cada casa, cada árvore que existia ao longo daqueles trilhos. Podia contar quantos dormentes havia entre uma estação e outra. Conhecia também, pelos apelidos que lhes punha, todos os usuários daqueles trens. “Zé Maniçoba, Xico Unicórnio, Dito Preto, Maquininha, Chica Tanajura”, todos apelidados segundo uma característica física ou comportamental. Xico Unicórnio tinha um calombo na testa, Zé Maniçoba era magro e espigado como a própria árvore que tem esse nome; Chica Tanajura tinha uma bunda que ocupava dois lugares no trem, Maquininha era um baixinho que nunca parava quieto.
Era uma gente que passava três quartos da vida naqueles trens. Vez ou outra os comandos hidráulicos que ficavam em baixo dos bancos começavam a soltar fumaça. Então nós sabíamos que em seguida um língua de fogo iria lamber o vagão. Era então a correria e o atropelo. Parecia uma manada de bois em disparada. Homens correndo, mulheres gritando, crianças chorando. E lá iam também os meus pés-de-moleque, meus amendoins, meus canudinhos de coco, levados pela multidão, esmagados pelos pés daquela turba sem controle.
Mas era divertido observar o comportamento daquela gente. Havia uns caras que se sentavam sempre no mesmo lugar. Até Poá as coisas eram calmas. De Ferraz de Vasconcelos para frente o trem começava a encher. Aí os caras fingiam que estavam dormindo. Então vinha uma mulher (sempre a mesma) e se encaixava entre as pernas dele. Á medida que o trem enchia e as pessoas se apertavam mais e mais, ele ia escorregando em direção às pernas dela e ela ia sendo empurrada cada vez mais de encontro a ele. Essa cena se repetia todo dia. Parecia até que era tudo combinado. Era um “amasso” consentido, obrigado pela força das circunstâncias, mas que trazia prazer para ambos os parceiros daquele conúbio forçado. Como não perdoar aquelas pequenas travessuras?
Pequena compensação para uma rotina tão árdua! Mas também vi muito malandro metido a valente apanhar de mulher por causa disso. E essa era a parte mais divertida.
RUA DO ADOLESCENTE
Lá pelas seis horas eu voltava para casa. Eu morava então na rua Ana Elvira, no Alto do São João. Antes uma média com pão e manteiga no bar do Brucutú. Era o meu jantar. Depois passava pela praça Osvaldo Cruz, que os casais de namorados já começavam a tomar conta. Subia a Dr. Deodato, passando pelo largo do Rosário, onde havia aquela velha igreja que eu nunca vira aberta. Mas a Fonte Luminosa, com as suas cascatas coloridas, era uma coisa linda de se ver.
Quando chegava em casa já era bem umas oito horas. Meus já estavam todos reunidos na esquina em frenta à casa do João Gorila. De vez em quando aparecia alguém com um violão. O Betão, irmão do João Gorila, tocava clarineta. Então se improvisava uma seresta. Eu queria descansar, mas qual o quê. Corria para lá e só voltava quando todo mundo já havia ido embora.
“ Poema é noite escura de amargura.
Poema é luz que brilha lá no céu.
Poema é ter saudade de alguém
Que a gente quer e que não vem.
Poema é o cantar de um passarinho
Que vive ao léu, perdeu seu ninho
E a esperança de o encontrar.
Poema é solidão na madrugada
Um ébrio triste na calçada
Querendo a lua namorar.”
Era a música da moda, grande (e único sucesso) do Renato Guimarães. Alguém cantava e eu declamava a letra imitando o Enzo de Almeida Passos. Era um prazer quase sexual fazer aquelas serenatas na esquina da Rua Ana Elvira. Cantávamos as músicas do Nelson Gonçalves, do Anisio Silva, do Silvio Caldas, e os sucessos da época, cujo intérprete mais famoso era o Carlos Gonzaga.
“ Não sei quem foi Ana Elvira de Souza Melo.
(Também a chamavam de Sinhazinha).
Seus parentes me perdoarão pela minha ignorância
Em relação aos personagens importantes desta terra
Que já nos deu Gustavo Paff e Inocêncio Candelária.
Morei na rua que leva o nome dessa senhora,
Mas para mim era apenas a rua cinco,
A Maria Galdência era a rua da Ressaca
E a João Mariano Franco era só a rua do meio.
Se vocês, parentes dos senhores e senhoras
Que foram injustiçados nesta crônica
Quiserem me processar, que o façam, entenderei
Mas não se esqueçam que eu tinha apenas quinze anos.
Quando muito irei parar na FEBEM dos maus poetas
E o meu castigo será o inferno dos inéditos.
Na Ana Elvira a praga era os carrinhos de rolimã.
Desespero das velhotas e das crianças
Que não podiam atravessar a rua sem cuidados.
Os dedos do meu pé não tinham unhas
Meus joelhos ficavam todos destampados.
Mas do alto daquele morro se avista a cidade toda.
E quando as luzes se acendem, que beleza!
Mogi das Cruzes vira um poço de pirilampos
A piscar, a convidar os poetas para sonhar,
A desafiar a toda a nossa sensibilidade.
A noite esconde as casas velhas, as coisas feias,
Como tudo que é feio nas trevas se esconde.
Mas eu não pensava em coisas feias então.
Fazer seresta e sonhar na esquina da rua Ana Elvira
São coisas das quais não me envergonho."
DIGNIDADE DE OPERÁRIO
Trabalhar de dia, divagar à noite, como conciliar tais coisas levantando ás cinco horas da manhã para vender bugigangas nos subúrbios da Central do Brasil? Resolvi procurar emprego fixo. Afinal eu tinha quinze anos e uma carteira de trabalho. A lei ainda não castrava a dignidade dos adolescentes, nem os empurrava para a criminalidade, com a desculpa de combater o trabalho infantil. Aliás, as pessoas que fazem essas leis nunca perguntam para as pessoas que são atingidas por elas se elas querem realmente isso. Se perguntassem se os negros, os idosos, os homossexuais, os portadores de necessidades especiais, querem ser tratados como minoria, com discriminação, como são essas leis que estabelecem quotas e distinções, certamente iriam se surpreender com as besteiras que dizem e fazem. Todo mundo quer respeito aos seus direitos, só isso.
Mas no bairro do São João tinha a Elgin. Era a fábrica mais popular da cidade. Todos os operários que passaram dos cinqüenta em Mogi das Cruzes já trabalharam na Elgin. O Dr. Bóris Grinberg era o diretor de pessoal daquela empresa. Falei com ele para me dar um emprego lá. Ele olhou para mim e riu. ─ Você não alcança a alavanca da máquina, menino. Como é que vou dar emprego para você?
Disse-lhe que se eu não alcançasse usaria um caixote. Usei-o durante os quatro anos que trabalhei lá, operando furadeiras, rosquedeiras e fresadoras, fabricando peças para máquinas de costura.
Trabalhar na Elgin era uma glória para mim. Gostava de ver aquele rio de operários invadindo a rua São João com seus macacões azuis. Durante muito tempo sonhei fazer parte daquela torrente, que cheirava a graxa e pó de ferro. Nada sabia das agruras da vida operária, da labuta incansável que acompanha a saga desses heróis anônimos, que vendem parte da suas vidas e do seu tempo por conta de miseráveis salários que mal chega para sustentar suas famílias.
No entanto, me pareciam tão alegres e descontraídos, falando sobre mulheres, futebol, amenidades, naqueles sorrisos sem mácula e sem posturas estudadas.... Por isso é que eu também estava ali, satisfeito, orgulhoso, vestindo o meu macacão azul, cheirando a graxa e pó de ferro, mas cheio de auto estima.
“ Dignidade de operário
É macacão sujo de graxa,
O produto que se fez
E a certeza do dia dez.
As contas pagas ou não pagas
Mas o orgulho de dizer
Pagarei no mês que vem
Quando chegar o dia dez.
E a barriga satisfeita,
Mãe, esposa satisfeita,
Dá para ir até no cinema
Quando chega o dia dez.
Beber cerveja invés de pinga,
Comprar até sapatos novos.
Quem sabe dá para ir até na Zona
Quando chegar o dia dez.
Compro um pouco de liberdade.
Compro um pouco de alegria,
Suficiente para três dias
Com o salário do dia dez.”
O GREVISTA
Um dia, quando deixava o trabalho, fui abordado por um mulato forte que me chamou de companheiro, muito embora eu não conhecesse. Mas ele usava um macacão azul e isso nos fazia quase irmãos. Ele me disse algumas coisas que eu não entendi muito bem e pôs nas minhas mãos um panfleto. Entre outras coisas, o panfleto dizia, numa linguagem meio provocante, que era a hora de lutarmos pelo Dissídio Coletivo, a Semana Inglesa, o Décimo Terceiro Salário, etc. Se “eles” não quisessem dar por bem, nós tomaríamos à força.
Não entendi o que queria dizer tudo aquilo. Mas eu gostava de poesia, e no fecho do panfleto havia uma poesia assinada por Pablo Neruda. Eu também não sabia quem era Neruda, mas a poesia tinha um tal apelo, um tal sentimento, que eu não pude deixar de ler e me sentir tocado por ela.
“ (...) Soldados de hoje, comunistas
Combatentes herdeiros
Das grandes torrentes metalúrgicas.
Escutai a minha voz
Nascida das galerias
Erguida á fogueira de cada dia
Por simples dever amoroso.
Somos a mesma terra
O mesmo povo perseguido
A mesma luta cinge
A cintura da nossa América(...)”
Em conseqüência, pus-me a divulgar aquele panfleto naquela noite entre os colegas de trabalho que encontrei; e três dias depois, na data marcada para a deflagração do movimento que iria resolver todos os nossos problemas, lá estava eu, de madrugada, na rua, empunhando um enorme cartaz, tentando impedir com os meus cinqüenta quilos, a entrada dos meus colegas na fábrica.
Alguns ouviram minha arenga e meus apelos. Da maioria só xingamentos e zombaria. Idiota, imbecil, ignorante, foi alguns dos “elogios” que eu ouvi. De um italiano nervoso cheguei a levar um pescoção.
O fracasso da greve trouxe-me o constrangimento do desemprego e alcunha de agitador. Estávamos em abril de 1964. No dia primeiro de abril daquele ano, estourou a revolução redentora. Os militares, apoiados por uma plêiade de políticos conservadores apearam o governo liberal e reformista do Jango Goulart e implantaram um simulacro de governo democrático. Com os sindicatos vigiados, os lideres dos trabalhadores presos ou reduzidos ao silêncio, os movimentos operários praticamente desapareceram. Nunca mais vi o mulato do panfleto.
Durante três anos não consegui encontrar outro emprego fixo. Eu era “fixado”. Sobrevivi trabalhando como servente de pedreiro, cobrador de ônibus da antiga Mogi Ltda e vendedor de carnês do Baú da Felicidade.
CARNÊS, TIJOLOS E TEARES
“ De porta em porta vendendo carnês
Fui o arauto da felicidade perfeita.
Contei mentiras, prometi quimeras.
As donas de casa que nunca ganharam nada
Geralmente me amaldiçoavam
Mas não desgrudavam do sorriso dele
Em seus domingos de televisão ligada.
Mas as empregadas delas, as domésticas,
Me ensinaram como é bom
Se deitar com uma mulher.”
E como servente de pedreiro na construção da Aços Anhagüera a coisa era braba.
“ Sob a chuva intermitente o servente carrega
Os últimos tijolos para a chaminé do forno
Que expelirá o suspiro do conúbio promiscuo
Que o capital e o trabalho praticarão dentro dele.
O filho deles será o aço fino que vestirá os automóveis,
As máquinas, as casas, as pontes e os navios
Que levarão para o exterior o suor dos brasileiros
travestido em produto Made in Brasil.
O forno come carvão e óleo.
Eu como feijão, arroz e ovo frito.
Ele é quente, faminto e arrogante,
Eu estou com frio, fome e sou humilde.
O medo de cair do andaime é maior que a fome
Que mutila a sensibilidade e faz brotar a imprecação.
─Puta merda, que país é esse?
Meio dia, soa o apito. Pausa para o almoço.
Pega-se a marmita fria, e entre uma garfada e outra
Observa-se de longe o mestre de obras matutando
No que fará quando a obra acabar.
( A obra não acaba nunca mestre Alcemiro.
Sempre há um tijolo a mais para assentar)”.
Finalmente, em 1968, arrumei um emprego com carteira assinada. Foi na NGK, empurrando carrinhos de pastilhas cruas para dentro de um forno. Eu me sentia um demônio trabalhando no inferno. Mas tirei no meu cangote os policiais que sempre me abordavam quando eu me sentava num banco das praças da cidade e eles vinham me pedir documentos. Carteira assinada era como um atestado de honestidade e decência. E eu agora podia mostrar que era tudo isso.
“ Ao jovem de 1968 chamaram de agitador e comunista.
Sem saber o que significava, dizia: ─ sou, e com muito orgulho.
Porém, posto que pobre e falador,
Era pobre e insignificante.
Escapei do DOI-CODI e dos inquéritos,
Não fui nem preso nem torturado.
Isso me frustrou sobremaneira.
Porque não tive história para contar.
Mas a NGK me despediu por agitar.
Porém eu só queria fazer charme para as meninas.
Eu só queria mesmo é arrumar uma namorada."
Dali fui para Howa, fábrica de máquinas para tecelagem.
“ Alguns anos trabalhei na Howa.
Especialmente descobri na Howa,
Que ser operário é ter mãos de ferro
E coração de donzela sonhadora.
Moça espera achar marido rico,
Se consegue, descobre que era só uma ilusão.
Só ficam os filhos e nunca a pensão esperada.
Operário espera aumento de salário.
Quando acontece, vem também a contra partida
Mais produção, mais deveres, mais exigências.
Mas foi na Howa que descobri
Que meus dedos eram fusos
E meu coração era um tear.
Com eles eu poderia tecer o meu destino.”
(DO LIVRO NOITE, VENTO E CHUVA-CRÔNICA DA CIDADE AMADA, PUBLICADO EM 1986, EDIGRAF, SÃO PAULO)
João Anatalino
Enviado por João Anatalino em 11/03/2010
Alterado em 09/04/2010