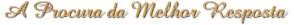AS VIRGENS DE ALÁ
“No dia sete de abril de 2011, por volta das 8:30 da manhã, um jovem entrou na Escola Municipal Tasso da Silveira, localizada no bairro do Realengo, Rio de Janeiro. Armado com dois revólveres, começou a disparar contra os alunos presentes numa sala de aula. Depois de matar doze pessoas, com idades entre 12 e 14 anos, ele foi ferido por policiais e se suicidou com um tiro na cabeça. Não se sabe, até hoje, os verdadeiros motivos que o levaram a praticar aquela chacina, mas uma nota escrita por ele dias antes, e o testemunho de parentes seus ouvidos pela polícia, sugerem que ele foi vítima de bullying quando era adolescente e desenvolveu uma personalidade profundamente anti-social. As investigações feitas pela polícia revelaram que ele simpatizava com doutrinas fundamentalistas e admirava os terroristas muçulmanos que cometeram os atentados de 11 de setembro, contra o World Trade Center, em New York.”
***
Não tinha memória de quando começara a sentir aquela compulsão por doces. Parecia ser um daqueles registros que estão perdidos para sempre no arquivo morto da inconsciência. Quando criança, disso se lembrava bem, ele não ligava muito para essas coisas. Preferia salgadinhos. Sua mãe sempre brigava com ele por causa disso.
─Você só quer comer porcaria, né menino?
E daí? Ele gostava, e ela, embora vivesse pegando no pé dele por causa disso, no fundo não ligava, pois deixava que comesse quanto salgadinho quisesse e até os comprava quando ia ao supermercado.
Sua mãe. Que falta ela fazia. Toda vez que se lembrava dela não conseguia reprimir as duas lágrimas quentes que brotavam dos seus olhos, mas que eram enxugadas rápida e sorrateiramente, para evitar que alguém as visse. Odiava que as pessoas o pegassem chorando. Detestava qualquer manifestação que pudesse ser taxada de sentimentalismo. Isso era coisa de boiola. Comportamento de babaca. Frescura de menina.
Meninas gostam de doces. Isso é o que ele dizia a si mesmo, amiúde, achando que elas compartilhavam desse seu desejo compulsivo por esse tipo de guloseima. Descobriu da pior forma que estava errado. Uma vez, na escola, achou de oferecer um brigadeiro para uma garota da sala. Já fazia algum tempo que ele estava de olho nela. Era uma menina bonita, de cabelos louros, lisos e compridos, e grandes olhos azuis. Sentava-se na terceira cadeira da primeira fila, no lado direito da sala, para quem olhava da mesa do professor. Ela pintava os contornos dos olhos como se eles estivessem dentro de uma moldura. A pintura realçava o azul dos olhos dela e os fazia parecer maiores do que realmente eram.
Gostava de ficar olhando para o rosto dela, mas ela nunca reparara no interesse dele. Ou fazia de conta que não reparava. Foi então que ele pensou que oferecer-lhe aquilo que mais gostava seria uma estratégia inteligente para aproximar-se dela. Nós sempre achamos que aquilo que nos agrada deve agradar também aos outros. A sabedoria de que não existe um princípio de identidade entre as preferências das pessoas nunca é a primeira descoberta que a gente faz na vida. E também não há escola nem professor que nos ensine isso, assim tão cedo. Nem faz parte da grade curricular de nenhum curso o ensinamento de que uma pessoa é uma pessoa e outra pessoa é outra pessoa. Que elas são diferentes porque é assim que o mundo funciona. Que ele é um quebra cabeças cujas peças precisam ter diferentes contornos para poderem ser devidamente encaixadas umas nas outras. E que só assim os desenhos se completam.
Fora apenas um gesto amistoso e gentil, mas a tentativa resultou em fragoroso desastre. A menina só faltou dar um tabefe na cara dele. Primeiro ela o olhou com tanto nojo que ele não sabia se ela estava vendo nele um sapo, uma lesma ou um monte de merda. Depois disse um palavrão que ele jamais pensaria ouvir daqueles lábios que ele julgava tão encantadores. Sempre imaginara que daquela boca sairia um repertório de ternura e encantamento. Nunca um projétil tão mortífero e destrutivo como aquele “tira essa merda da minha frente”, que os lábios rosados da menina cuspiram para cima dele, como se aquela linda boquinha rubra, que ele comparava a uma cereja laqueada em mel, tivesse se transformado, de repente, na boca do cano de uma arma fumegante que acabava de ser disparada à queima roupa contra o seu coração, matando instantaneamente a sua auto-estima.
Sua mente consciente registrou esse acontecimento na forma de uma vigorosa rejeição por parte da espécie feminina. Sua mente inconsciente, no entanto, arquivara o fato com essa e com outros pedaços de informação.
Ele acabara de fazer quinze anos. Não sabia que a nossa mente é programada pela linguagem. Na maioria das vezes não é o que a gente ouve, vê e sente na experiência vivida que gera a resposta dada, mas sim a mensagem não verbal que a acompanha. Não tinha consciência, por exemplo, que as informações mais importantes que ele recebera na experiência com aquela garota estavam nas caretas de desgosto e desprezo que ela fez, no rubor do rosto dela, que expressava uma raiva tão grande que mudou a coloração da pele rosada do seu rosto, no tom ferino e mordaz da sua voz, na postura de repulsa e desagrado que ela fez em relação ao seu amistoso gesto de aproximação.
Até então não havia percebido o quanto era arrastado o r da pronúncia dela. Nem o quanto aquele som o incomodava. Aquele “tira essa merrrda da minha frente” ficou martelando na cabeça dele vários dias. Era como se alguém ficasse cutucando, sem parar, uma ferida aberta no seu peito.
Durante muitos dias tivera sonhos decorrentes. Ás vezes sonhava com canos fumegantes de revólveres, canhões, bazucas e até bocas de vulcões vomitando lava e fumaça com cheiro de merda pelo azul de um céu imaculado e inocente. Outras vezes sonhava que andava por um jardim, cheio de flores lindas e perfumadas. De repente pisava em algo mole e pastoso. Afundava até os joelhos. O cheiro nauseabundo não deixava dúvidas. Era aquilo. A merda.
Soube depois, por meio de um colega, que a tal menina sonhava ser modelo. Doce, para ela, era palavrão. Era ofensa das grossas. Mas para ele, foi o que bastou. Nunca mais teve coragem de se aproximar de outra garota. Em seu inconsciente ele era uma merda que precisava ser retirada da frente dos outros. Mas se alguém lhe perguntasse sobre esse assunto ele diria com muita convicção que nem se lembrava mais disso. E era verdade. Não se lembrava mesmo.
Mas o problema não era só esse. Ouvira a mesma coisa, várias vezes, da boca do pai bêbado. “Você é uma bosta que não vale o que come”, costumava ele dizer. Essa era a locução favorita do seu pai quando ele fazia alguma coisa que o aborrecia. Como o velho estava sempre bêbado e aborrecido com alguma coisa, isso era o que ele mais ouvia. Mas o pior era ouvir isso também dos colegas. Gostava de jogar futebol, mas nunca conseguiu ser bom de bola. Sempre sobrava para ele a posição de goleiro. O gol é geralmente o lugar que sobra para “os perna de pau”, diziam os mais gozadores. Tudo bem, ele sabia que não era craque. Podia suportar muito bem isso e até fazer um papel bonito jogando no gol. Afinal, muitos goleiros fazem fama e fortuna defendendo o último portal. Muitos jogos são ganhos pelo goleiro. Esses eram pensamentos que o consolavam.
Mas ele também não era um bom goleiro e então vinham os “frangos”. E com eles os xingamentos. “Você é mesmo uma bosta. Nem para goleiro serve”.
Cresceu com esse som desagradável na cabeça e o cheiro nauseabundo no nariz. Nenhuma namorada, raros colegas. Com vinte e quatro de idade tornou-se um jovem afastado de tudo e de todos. Enquanto a mãe era viva ele ainda mantinha um elo de ligação com o mundo. O pai, desprezível pudim de cachaça, havia morrido de cirrose hepática há uns três anos atrás. Ficou aliviado pelo fato de Deus ter se antecipado a ele, pois tinha ganas de acabar com a vida daquele desgraçado na primeira oportunidade. Era uma mágoa tão grande que ele guardava daquele cara, que sua morte, e principalmente a lembrança da agonia dolorosa que ele sofreu antes de morrer, lhe caíram como se ele tivesse tomado um remédio milagroso que aliviava repentinamente as dores de uma úlcera péptica que o consumia toda vez que a lembrança daquele homem feria qualquer um dos seus sentidos.
Se ele era tímido, retraído, caladão enquanto a mãe vivia, depois da morte dela − ocorrida dois anos depois do falecimento do pai − tornou-se completamente, arisco, selvagem, quase um ermitão.
Terminara, com muita dor e dificuldade, o ensino médio. Mais por conta da pressão materna do que por vontade própria. Por ele teria deixado a escola no dia em que aquela menina o transformou naquele “monte de merda ambulante”, que tinha que viver escondido para não provocar aqueles esgares de nojo e desprezo que ele pensava ver na linguagem não verbal das pessoas que se aproximavam dele, ou de quem ele tinha que se aproximar, mais por obrigação de viver, do que por necessidade ou desejo de se relacionar.
Em alguma coisa, no entanto, esse isolamento lhe fora proveitoso. A solidão e o afastamento do convívio com as pessoas fizeram dele um verdadeiro nerd. Tornara-se perito em informática. Sabia tudo sobre computadores. Aprendera a trabalhar com tudo quanto era programa existente na praça. Só não se tornara um hacker porque tinha medo de ser preso e seviciado na cadeia, como são as "carnes novas" que lá são atiradas.
Seu mundo era a Internet. Nela vivia, nela comia, nela sonhava. Quando não se encontrava trabalhando, estava viajando pela rede.
Aos vinte anos arranjou um emprego numa editora. Era uma editora especializada em livros religiosos e esotéricos, que publicava escritores independentes que pagavam o custo de edição de suas obras.
Ele fazia a diagramação dos livros. No começo se surpreendeu com a quantidade de escritores esotéricos que contratavam os serviços da editora para publicar suas estranhas obras. Eram, na grande maioria, composições literárias de escritores amadores, que falavam de vampiros, lobisomens, seriais killers, bruxas, rituais satânicos, simbologia sagrada, sociedades secretas, fetiches e fobias bizarras, esquizofrenias e outras aberrações da mente humana.
Ele não tinha idéia de quão grande era o número de pessoas que gostava de ler sobre esses assuntos. Mas o mercado devia ser bem amplo por que os livros tinham bastante saída. A editora publicava livros por demanda. Alguns deles alcançavam tiragem de dois, três, até dez mil exemplares, o que, num país cujo povo não gosta de ler, diga-se, é um verdadeiro fenômeno.
Pouco a pouco, ele foi mergulhando naquele mundo de coisas e fenômenos banidos do mundo da razão e do convívio com as pessoas normais. Ao mesmo tempo começou a estabelecer uma relação de simpatia e prazerosa convivência com aqueles fatos e assuntos malditos que eram os hóspedes dos livros que ele fazia a diagramação. Eles eram como ele, monstrengos isolados do convívio com as pessoas normais. Eram fenômenos catalogados como sobrenaturais, anormais, aberrantes, ou entidades que precisavam viver nas sombras como vampiros, ou esperando noites de lua cheia para se manifestar, como lobisomens.
Sim, elas eram como ele, um sujeito estranho que precisava sair de casa de madrugada, sob o manto protetor da escuridão e voltar já bem tarde, protegido pela capa da noite já densa, esgueirando-se pelas ruas mais desertas só para evitar os olhares das pessoas, para não ouvir a voz delas, nem suportar o contato com elas.
Odiava as pessoas tanto quanto amava os assuntos dos livros com os quais trabalhava. Sabia tudo sobre Jack, o Estripador, o pistoleiro Billy the Kid, Karyl Chessman, o Bandido da Luz Vermelha, O Assassino do Zodíaco, que apavorou a vida dos californianos durante a década de 60, David Barkowitz, o famoso filho de Sam, que nos anos setenta matou uma dúzia de pessoas nos Estados Unidos e por aí afora. Um dos preferidos do seu estranho catálogo de heróis era o motoboy Francisco de Assis Pereira, que na década de 90 assassinou mais de dez garotas em São Paulo. “Elas mereceram” dizia para si mesmo, toda vez que mexia com aquele assunto. “Todas as garotas merecem. São depravadas e só pensam em sexo”, concluía, para justificar o seu julgamento.
Gostava de rock pesado. Sua banda preferida era os Dead Boys, cuja música heavy, soturna e arrepiante, o confortava e dava prazer. Quando chegava em casa à noite, onde morava sozinho desde a morte da mãe, era isso que ele fazia. Sentava-se em frente ao computador e ficava navegando na rede e ouvindo o rock pesado da banda, até altas horas da madrugada. Quando a aurora chegava, ele se levantava, tomava um banho e saia para trabalhar. Quase não dormia durante a semana. Tirava, quando muito, uns pequenos cochilos, às vezes ali mesmo, diante do computador. Deixava para dormir de fato nos fins de semana, quando praticamente não saia da cama no sábado e no domingo, só se levantando para comer as "quentinhas" que encomendava no restaurante próximo à sua casa.
Desenvolvera também uma estranha simpatia por doutrinas racistas e religiões fundamentalistas. Achava as teorias que fizeram a cabeça de Hitler, como ele costumava dizer, o máximo da sabedoria. Por conta disso leu Alfred Rosemberg, Chamberlain, Gobineau e Nietszche com grande prazer.Fez do Main Kampfe,d e Hitler, o seu livro de cabeceira.
Comprou todos os CDs que reproduziam a música de Richard Wagner, compositor favorito de Hitler. Gostava de ouvir a Cavalgada das Valquírias, Parsifal e o Anel dos Nibelungos. Depois, lendo na Internet o libreto com a história e a interpretação dos mitos que serviram de inspiração para as respectivas óperas, compreendeu logo porque elas exerciam tanto fascínio sobre o espírito do lúgubre ditador alemão.
Não era à toa. Eram obras que falavam do heroísmo e da nobreza do povo ariano. Descreviam sangrentos holocaustos e sugestivos sacrifícios rituais. Descortinavam uma cena repleta de heróis e deuses impiedosos, cujo objetivo era emular a força, a coragem e a determinação que faz de um homem um espécime invulgar entre os seus pares.
Tudo aquilo nada tinha a ver com o mundo mesquinho, tacanho e moralista em que fora posto para viver, e que, no por isso mesmo, o rejeitara. Talvez essa fosse a causa da rejeição. Ele não era igual aos demais. Sentia-se um ser superior, posto por engano numa comunidade de inferiores, e as pessoas sentiam isso quando em contato com ele. “Todos tememos aqueles a quem não podemos vencer”, pensava.
Com redobrado entusiasmo teria sido um soldado das S.S. E com muito orgulho e indescritível prazer teria participado das missões dos einsatz grupens, aqueles soldados alemães que, durante a guerra, eram destacados para missões especiais de extermínio de minorias raciais e grupos étnicos indesejáveis, que prejudicavam a gloriosa missão ariana de construção de uma humanidade pura e saudável.
Depois de algum tempo passou a admirar também os terroristas muçulmanos que explodiram as Torres Gêmeas naquele fatídico 11 de setembro de 2001. Que coragem tinham aqueles caras! Eles eram terroristas para os americanos, mas para ele eram verdadeiros heróis. Que destino fantástico o daqueles homens, que escolheram morrer por uma causa na qual acreditavam de verdade! Quantas pessoas no mundo teriam feito o que eles fizeram, com tanta frieza e determinação? Só os kamikases japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, tinham feito coisa semelhante.
Será que eles teriam mesmo ido para o paraíso prometido pelo Alcorão? Esse era outro assunto que o fascinava. Seria verdadeira a promessa? Existiria mesmo esse paraíso, povoado por garotas tão fantásticas, que por mais sexo que fizessem, ainda continuavam virgens? Pensava que seria muito bom ser mandado para um lugar assim, onde os hímens nunca se rompem, onde o pênis nunca amolece e o sexo é uma atividade perene, desejável e santificada. Esse pensamento o excitava e ele então se masturbava.
Não tivera nenhuma experiência sexual até então. Era virgem de contato com mulheres. Virgem como uma huri, as meninas que habitavam o paraíso muçulmano. Compreendia o valor que a religião islâmica dava à questão da virgindade, pois ela figurava o corpo da mulher como um território de delícias, só aberto aos eleitos de Alá. E a virgem era como uma praia deserta, onde o sonho do homem, de possuir um pedacinho do Éden, se realizava plenamente.
Talvez fosse por isso, por essa ilusão de eterna virgindade, que as huris eram capazes de manter o pênis do felizardo que as conquistava ereto para sempre. Não importava que o paraíso dos muçulmanos se assemelhasse a um bordel santificado. Essa era uma imagem caluniosa que dele faziam os cristãos, raça de infiéis que não conseguia entender a grandeza dessa concepção, capaz de levar um homem a sacrificar a própria vida em prol de uma causa, coisa que nenhuma outra crença, nos dias de hoje, era capaz de fazer.
Decididamente o ocidente se tornara um mundo de valores corrompidos e sem honra, que estava mesmo destinado a desaparecer. Por isso apoiava a causa dos lutadores da Jihad e se fosse possível, gostaria de se juntar-se a eles. Só não sabia como fazer isso.
Em seu trabalho na editora tinha que diagramar muitos livros. Assim acabava lendo vários deles. Ficara fascinado por um conto onde um desses terroristas suicidas detonava um colégio inteiro nos Estados Unidos por que seu mestre lhe dissera que a Jihad seria mais completa quanto maior fosse o número de infiéis que ele conseguisse matar com seu ato. E maior seria seu galardão no paraíso por que as pessoas que ele matasse se tornariam seus escravos. Se fossem homens, seriam transformados em eunucos, se mulheres elas se tornariam as virgens que fariam parte do seu harém de setenta huris.
Se fossem todas virgens enquanto vivas, melhor ainda. Então o maluco jogou o seu avião em cima de um colégio feminino matando mais de uma centena de meninas adolescentes. Duas eram as motivações do suicida: providenciar uma provisão bastante farta de huris para o seu harém e diminuir o número de matrizes que os infiéis teriam à disposição para reproduzir os seus malditos rebentos.
Com isso Alá ficaria duplamente satisfeito. Mas para fazer isso o sujeito teria que cruzar, de livre e espontânea vontade, Sete Portais. Esse era o nome do conto. O primeiro era o Portal da Fé. Só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Tinha que acreditar piamente nisso. Nenhum outro caminho o conduziria ao Paraíso, senão a religião de Maomé. O segundo era o Portal da Submissão. Tinha que se entregar todo á causa. Submeta-se, dizia a doutrina do Islã. Você não tem livre arbítrio, como dizem os cristãos. Alá já traçou o destino de todos os homens. Mak Tub. O terceiro Portal era o da Determinação. Os servos de Alá tinham que ser determinados. Não podiam duvidar um só momento que escolheram o caminho certo. Em quarto vinha o Portal da Coragem. Covardes não entram no Paraíso. Soldado de Alá não pode ter medo. O quinto era o Portal do Desapego. Para realizar as façanhas que Alá esperava dele era preciso que o individuo não tivesse apego ao mundo e às coisas que ele dá. Só pela esperança de um dia atingir o Paraíso valia a pena viver. Quem se apegava aos bens do mundo eram os infiéis ocidentais. O sexto Portal era o do Ódio. Ódio aos infiéis. Morte a todos eles. O sétimo e último era o Portal do Sacrifício, no qual ele imolava a própria vida em prol da causa.
Em sua vida cotidiana ele sentia que já havia passado espontaneamente por alguns deles. Desde que se tornara, por convicção, muçulmano, ele adquirira uma fé inabalável nos postulados do Islã; portanto, a ele submetia-se de todo coração. Já não tinha absolutamente sonho algum em relação às conquistas deste mundo criminoso e celerado que os ocidentais construíram. Tudo nele era pecado e heresia. Por conseqüência, odiava mortalmente tudo isso. A única coisa que ainda não tinha certeza é que se teria coragem suficiente para cruzar o último Portal, sacrificando a própria vida em proveito da causa. Mas isso é o que ele ia ver quando chegasse a hora.
O conto era, naturalmente, uma sátira, e o seu autor, ao escrevê-lo, tinha uma flagrante intenção de deboche em relação à essa crença muçulmana. Fazia uma interpretação estereotipada e irônica das crenças islâmicas e da idéia que eles tinham do paraíso. Pintava-o como se ele fosse um magnificente bordel, onde prostitutas de luxo eram treinadas para satisfazer psicopatas tarados. Ali eles consumiam as delicias que Alá prodigalizava aos homens por conta dos atos loucos que haviam praticado na sua guerra santa contra os infiéis.
Mas essa maluquice tinha amparo numa certa lógica fornecida pela História. O paraíso muçulmano, assim como o cristão e outras figurações dessa utopia, nada mais são que retratos metafóricos das próprias sociedades que os engendraram. Afinal era costume na Idade Média, quando essas idéias começaram a ganhar corpo, que o perdedor de um combate se tornasse escravo do vencedor. Ele e suas mulheres. Geralmente os homens tornavam-se eunucos e as mulheres concubinas. Se fossem virgens melhor ainda. Portanto, não havia nada de absurdo na idéia de que o morto pudesse se tornar servo do seu matador no outro mundo e suas mulheres se tornarem huris. Era uma crença que já tinha tido a sua correspondência na vida prática.
Pensando assim ele podia entender melhor o que se passava na cabeça daqueles caras que jogaram aqueles aviões no World Trade Center. Quantos eunucos não estariam eles fazendo com aquele ato? Entre eles, quantas virgens, entre as mulheres mortas, não estaria arrebanhando para os seus haréns? Não valia a pena morrer por um prêmio assim?
Adotara como tela de abertura no seu computador a imagem do boeing se arremetendo sobre as Torres Gêmeas. Desenvolvera outras telas com o mesmo motivo, mostrando aviões se chocando contra a Torre Eiffel, O Castelo de Windsor, o Prédio do Parlamento inglês, o Taj Mahal, o Ginza Store, a Estátua da Liberdade, o Krenlin, o prédio das Nações Unidas, enfim, todos os prédios e monumentos que, na sua cabeça, simbolizavam a tirania do homem contra o homem.
Em cada uma dessas montagens ele era o piloto do avião. Com isso sentia-se um herói lutando por uma causa. Não era mais um “monte de merda que devia ser afastado da frente das pessoas.” Dessas ações emergia como um sultão, de pênis eternamente rígido, e servido, não por uma lourinha malcriada de subúrbio, mas por um séquito de escravos e um exército de huris de olhos amendoados e escuros, castas como pérolas bem guardadas.
Com um prêmio desses não se importaria de jogar um avião no prédio do Congresso em Brasília ou contra o Cristo Redentor. Adoraria ver todos aqueles deputados e senadores filhos da puta transformados em eunucos e a suas mulheres e filhas em deliciosas huris, que seriam fodidos todo dia por ele. Afinal, aqueles políticos não fodiam todo mundo o tempo inteiro? Quanto ao avião que se chocava contra o Cristo Redentor, não era por ódio dos cariocas ou do Rio de Janeiro que ele fizera aquela imagem. Era pelos sentimentos que o cristianismo lhe inspirava. A religião cristã, para ele, era a maior farsa que já foi perpetrada contra a humanidade. Uma religião de hipócritas, feita para hipócritas. Uma crença cujos praticantes falam de paz, amor e perdão, mas na prática disseminam o ódio e condenam sem piedade milhões de pessoas à morte; uns pela fome, controlando o mercado de alimentos, outros pela guerra, incentivando o comércio de armas; outros pela doença, através do controle das patentes farmacêuticas e da detenção do conhecimento em círculos muito restritos. E tudo isso somente para obter lucro. Lucro, lucro, era o deus dos cristãos.
Que diabo de fraternidade era aquela que o Cristo representava? E a quem ele estendia aqueles braços? Deviam ser tão poucos os privilegiados, que talvez mal enchessem a círcunferência do seu abraço de pedra. Afinal de contas, cristão era o mundo que o rejeitara. Seu pai era cristão. Cristã também era aquela menina que o considerara um “monte de merda que devia ser afastado dos olhos do mundo” e cristãos eram os moleques que debochavam dele na infância e na adolescência.
Por isso, quando deu o primeiro tiro dentro daquela sala de aula, naquele colégio onde ele entrara disfarçado de professor, ele não teve muito tempo para gozar o prazer que isso lhe causou. Mas não importava. Ele já o havia gozado centenas de vezes antes, ao planejar aquela ação. Durante um ano estudara todas as nuances da sua Jihad pessoal. Conseguira até permissão para ser professor voluntário naquela escola, com o objetivo de ensinar aos alunos algumas aplicações mais avançadas de informática, além daquelas que eles já aprendiam como parte do currículo escolar.
Selecionara aquele colégio porque era uma escola particular. Ficava num bairro rico da Zona Sul. Não podia haver local melhor para mostrar ao mundo o seu inconformismo. E porque a grande maioria dos alunos era do sexo feminino. Elegera o período matutino porque era reservado aos estudantes do ensino fundamental. Uma maioria de meninas entre doze e quinze anos. Maior probabilidade de serem virgens. Cerca de trinta alunos por classe. Muitos eunucos e huris para serem arrebanhados para o seu paraíso.
Ao disparar o primeiro tiro escolhera a menina sentada na terceira cadeira da primeira fila, do lado direito da sala, visto a partir da mesa do professor. Fora numa cadeira igual aquela, na mesma posição, que a lourinha dos seus quinze anos o transformara num “monte de bosta que precisava ser tirado da frente dos olhos e dos narizes do mundo”.
“Eu não sou um monte de merda”, pensou ele antes de sacar e apontar a arma para a menina da terceira cadeira: ”Você é virgem?”, perguntou.
Não deu nem tempo para ela se recuperar do espanto de ouvir pergunta tão inusitada, feita de maneira tão extravagante e assustadora. A cabeça dela acabara de explodir como se nela surgisse, de repente, uma cratera de vulcão esguichando sangue e pedaços de osso. Depois ele não viu nem pensou em mais nada. Em sua mente desfilavam imagens rápidas e confusas de canos de armas fumegando, aviões explodindo contra prédios e monumentos, homens sem rosto, marchando ritmados e resolutos, soldados vestidos com uniformes negros, com cruzes gamadas pintadas no ombro. Toda a imensa confusão em que sua mente vivera até o momento aflorou naquele instante como um vulcão que acabara de entrar em erupção. E viu também que suas mãos haviam se transformado em duas crateras que vomitavam fumaça e jatos de lava de uma cor alaranjada e sinistra, que contaminavam um céu azul, inocente e imaculado como um paraíso bíblico, com sua fumaça cheirando à pólvora.
“Você é virgem? Você é virgem?” Perguntava e atirava contra a meninada que fugia e gritava e se atropelava e escorregava em poças de sangue, que se tornavam cada vez mais densas e espalhadas. Não tinha tempo para fazer a conta. O importante era a quantidade de almas que precisavam ser capturadas. Sentia-se um bandeirante caçando índios para trabalhar no seu canavial ou um soba africano na sua frenética tarefa de capturar seus compatriotas para vendê-los aos fazendeiros do novo mundo.
Quase uma eternidade havia decorrido quando ele sentiu uma brasa queimar seu flanco direito. Alguém atirara nele. Arqueou mas não caiu. Correu para a escada, mas não conseguiu descer os degraus. Sua visão começava a turvar-se. Sentia o mormaço do sangue que começava a escorrer pelas pernas e pingar no chão, formando manchas rubras e escorregadias. Sentou-se em um dos degraus, tremendo com a friagem que se espalhava pelo seu corpo inteiro. Soube imediatamente que tinha chegado a hora de transpor o Último Portal. Viu os soldados chegando. Não podia esperar que o empurrassem. O ritual exigia que a iniciativa fosse sua. Não podia ser morto pelos inimigos. Isso inutilizaria todo o seu esforço. Por isso, com as últimas forças que ainda lhe restavam no braço, e num último lampejo de consciência, encostou uma das armas na própria cabeça e puxou o gatilho. Completara sua Jihad. Restava agora esperar pelo julgamento de Alá.
__________________________
Nota do autor: este conto, embora inspirado em fatos reais é fruto exclusivo da imaginação do autor. Qualquer semelhança entre os personagens nele referidos e pessoas reais, vivas ou mortas, terá sido mera coincidência.
João Anatalino
Enviado por João Anatalino em 20/01/2012
Alterado em 08/03/2012