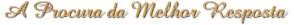O BRAÇO DA MORTE
O jovem Adolfo estava muito contente com sua conquista e resolveu comemorar de uma maneira não muito condizente com suas próprias inclinações. Ele havia conseguido passar no vestibular da faculdade demedicina da Universidade de São Paulo e ia, finalmente, realizar o seu sonho de ser médico.
Ser médico era o sonho que ele acalentava desde menino. O pai, Dr. Adolfo, também era. Talvez tivesse herdado dele essa inclinação, mas Adolfo Filho nunca teve dúvidas sobre o que queria na vida.
Seu pai era legista. Ás vezes costumava levar o jovem Adolfo para vê-lo trabalhar. O garoto adorava aquilo. Preferia o silêncio e o cheiro do laboratório onde o pai dissecava cadáveres ao ambiente aborrecido da sua própria casa, ou dos shoppings e plays games onde seus colegas costumavam se reunir. Ficava fascinado ao ver o pai abrindo crânios, ou cortando com aquele tesourão as vértebras de um cadáver para analisar suas entranhas. Parecia um mecânico abrindo o capô de um carro para examinar seu mecanismo. Admirava o conhecimento dele quando dizia que o fulano morreu por tal e qual causa, e estipulava a hora exata em que a morte ocorreu, as circunstâncias e detalhes que só mesmo um grande perito naquela arte saberia dizer.
Desde pequeno o jovem Adolfo aprendera a ver o corpo humano como se fosse uma máquina construída e programada para a execução de determinadas funções. Os membros superiores e inferiores eram como alavancas de impulsionar, agarrar, manipular coisas e proporcionar movimento ao corpo; a cabeça e o tronco eram caixas onde se armazenavam os órgãos funcionais do corpo, e esses órgãos, pensava ele, eram como caixas de câmbio, engrenagens, bielas, anéis, foles, bombas, motores, fiação, placas de circuito impresso, como o cérebro e a rede neural, e por aí adiante.
Para ele não haviam seres humanos, no sentido em que a filosofia e a religião o colocam. Sempre ouvira o pai dizer que o ser humano era um produto da natureza, tanto quanto qualquer outro animal. “O que os filósofos e os religiosos chamam de espírito”, dizia ele, “é apenas uma característica desenvolvida pelo organismo humano, num processo que levou alguns milhões de anos para chegar a esse resultado. É simplesmente uma reação química que se processa nos neurônios do homem, reação essa que nós chamamos de pensamento”.
Adolfo nunca fora a uma Igreja, e livros como a Bíblia e outras escrituras consideradas sagradas, ele nunca lera. Conhecia por ouvir falar as teses que sustentam que o homem era uma criação especial de Deus, que ele tinha uma alma, um espírito, que sua personalidade sobrevivia após a extinção do corpo, que havia vida após a morte, que a consequências de ações realizadas nesta vida repercutiam em vidas posteriores, ou em outros lugares onde a nossa consciência sobrevive, etc. Para ele tudo isso era balela, superstição, mentira urdida por alguns espertalhões para tomar dinheiro dos idiotas que eram incompetentes demais para conquistar o próprio espaço no mundo e gerir a própria vida; e que por isso ficavam sonhando com recompensas após a morte, e principalmente com um Deus onipotente e gestor do mundo, para ajudá-los a realizar as coisas que eles mesmos, por conta das suas impotências, não conseguiam realizar.
“Se Deus existisse”, dizia ele, repetindo o que ouvia do pai, “ ele seria um péssimo gestor, pois este mundo é uma verdadeira bagunça.” E quando o interlocutor era uma garota, ele olhava libidinosamente para ela e completava: “ e pior ainda, ele é um péssimo arquiteto, pois ao projetar a mulher, colocou uma área de lazer ao lado de um cano de esgoto”.
Tudo isso talvez explique o que aconteceu ao jovem Adolfo naquela noite. Após ver o seu nome na lista dos aprovados para o curso de medicina, ele resolveu comemorar junto com alguns amigos numa danceteria. Bebeu, dançou, flertou, divertiu-se até á saciedade. Ele não era muito de beber. Arriscava, quando muito, uma cervejinha de vez em quando, porque aprendera com seu pai, que o álcool “prejudica o desempenho da máquina.” Mas a verdade que ele era fraco com bebida. Ficava "alto" com pouca coisa. E naquela noite ele bebeu além da conta.
Deixou a danceteria ás cinco da manhã. Estava visivelmente embriagado. Pegou o carro e saiu pelas ruas quase desertas, naquela hora da manhã, sem perceber o quanto estava dirigindo perigosamente. Mas, para ele, tudo estava bem. Parecia até que seus reflexos estavam melhores. Sentia uma euforia gostosa ao passar as marchas, ao cantar os pneus nas curvas, ao sentir o vento batendo no seu rosto. Nem percebia que andava em zig zag pelas ruas, ou que andara subindo em calçadas ao fazer as curvas, e que ás vezes, até dirigia pela contra-mão.
Tinha acabado de entrar numa avenida quando sentiu um impacto violento contra o pará-brisa do carro. Foi tudo tão rápido que ele mal conseguiu perceber o que acontecera. Viu um corpo se chocando contra o pára-brisa do carro e rolando na calçada; uma bicicleta atirada contra um muro; jatos de sangue borifando os vidros; um espelho lateral arrancado; os estilhaços do vidro explodido que voaram para dentro do carro, um grande buraco no pára-brisa; cones de marcação voando pelos ares; uma coisa sangrenta que pulou para dentro do carro através do buraco feito no vidro. Ouviu o canto dos pneus e gritos de dor e imprecações.
Como se tivesse saído repentinamente de uma dimensão para outra, ele se sentiu completamente lúcido e logo percebeu a tragédia em que se envolvera. Não parou para ver o que tinha acontecido. Sabia, por intuição, que havia atropelado alguém. Era um ciclista. Vira sua bicicleta voar pelos ares, sentira o impacto dela contra a frente do carro, vira, de relance um corpo chocar-se contra o carro e rolar na calçada, os cones que voavam pelos ares, e sentira, naqueles átimos de segundo, toda a adrelina que o envolveu quando fazia as manobras para equilibrar o carro e voltar para a faixa que lhe competia. Soube imediatamente que havia invadido a ciclovia existente naquela avenida e atropelara um ciclista. Instintivamente olhou para o velocímetro: ele marcava mais de cento e vinte. Olhou rapidamente para trás e não viu ninguém. A avenida estava vazia. Ninguém, fora ele e a vítima, havia visto o acidente. Isso o tranquilizou.
Mas ele não parou. Virou imediatamente na primeira esquina que deu mão e saiu daquela avenida fatídica. Andou a esmo por algumas ruas silenciosas e vazias. Caiu em uma outra avenida que beirava um rio. Não sabia que rio era aquele, mas também não importava. O que ele queria era afastar-se, o mais que pudesse, do local do acidente. Sentia-se completamente aturdido.
Foi então que olhou para aquela coisa sangrenta que saltara para dentro do carro quando os vidros se partiram. Em princípio pensou que fosse um cachorro, ou um bicho qualquer que o ciclista levava com ele, ou que estivesse passando pela calçada invadida naquele momento. Mas não. Ele logo viu que era um braço. Tinha arrancado, no impacto, um dos membros superiores do ciclista. Sentiu medo e nojo. Mais nojo do que medo. Aquilo era simplesmente horrível. Pegou o membro, ainda vertendo sangue como se fosse uma ferida recentemente aberta. Sentiu o cheiro ocre e nauseante do sangue pingando no assento do carro. Parecia que aquela coisa ainda estava viva. Lembrou-se dos comentários do pai, quando o vira dissecar cadáveres no Instituto Médico Legal. “Membros são peças articuladas que executam movimentos comandados pelo cérebro”.
Parou o carro na beira do rio. “ Isso é apenas uma peça de máquina”, disse para si mesmo. E então atirou aquela coisa nojenta e mal cheirosa no rio. Ela afundou imediatamente nas águas grossas e pútridas do rio. Voltou para o carro e deu partida.
Não tinha andado cerca de dez minutos quando uma idéia lhe encheu a mente de uma forma intensa e inarredável. Aquele braço ainda estava vivo! Podia sentir as pulsações dele. Era como uma coisa que havia sido privada da sua fonte vital e tensionava, vibrava, buscava, com todas as energias que ainda tinha, restabelecer a conexão com o organismo de onde viera. Parecia uma lagartixa, da qual se cortou o rabo e este continua a se mexer, como se estivesse procurando o corpo, de onde fora separado.
Sabia, por que aprendera com seu pai, que as células de um membro separado do corpo ainda sobrevivem por cerca de seis horas, e se este for reconduzido ao seu lugar de origem pode ser reimplantado e recuperar as suas funções. Mas ele o jogara no rio. Era como se estivesse praticando um aborto, ou uma eutanásia, por que, de certa maneira, estava impedindo que algo, ou alguém, exercesse o seu direito de viver. Mesmo para um ateu como ele, que não tinha doutrinas nem acreditava em absolutamente nada que não fosse o positivismo do mecanismo físico-químico que nos mantém vivos, havia as conseqüências jurídicas que certamente adviriam. Se ele se apresentasse á polícia, registrasse a ocorrência, prestasse socorro á vítima e levasse o membro amputado para o hospital, talvez ele pudesse ser reimplantado, e sua situação não ficaria tão complicada. Do jeito que estava, e pelo que tinha feito, a repercussão seria, sem dúvida terrrível.
Foi por isso que ele voltou ao lugar do rio onde havia atirado o braço amputado. Precisava encontrá-lo e levá-lo ao hospital para onde a vítima fora levada. Tinha cerca de seis horas para isso. Não pensou duas vezes. Mergulhou nas águas pútridas do rio e esquadrinhou a lama do fundo. Nada. Tentou mais duas vezes. Nada. Na quarta tentativa se deu conta da besteira que estava fazendo. Ele não tinha competência para tal trabalho. Era preciso chamar o Corpo de Bombeiros. Começou então a nadar para a margem. Mas não chegou nela. Na terceira braçada, sentiu uma pressão na garganta, e que algo o puchava, com uma força contra a qual a sua nada significava, para o fundo. Lutou, debateu-se, engoliu a água lodosa e nauseabunda do rio, gritou pedindo socorro. Mas eram as primeiras horas da manhã e ninguém estava passando por ali naquela hora. Afundou como uma pedra, se misturando á lama negra e mal cheirosa do fundo do rio.
Seu corpo foi encontrado ás 11 horas daquele dia uns dois quilômetros rio abaixo. Seu pai, o legista Dr. Adolfo, diagnosticou que o seu filho havia morrido afogado. Em princípio pensou que ele havia bebido muito e provavelmente sofrera um acidente, no qual fora arremessado para fora do carro, caindo no rio. O estado do carro parecia confirmar essa hipótese. Com a frente e o capô todo amassado, o pára-brisa quebrado, o espelho lateral arrancado, o sangue no interior do carro, não deixavam dúvidas que ele sofrera um acidente antes de cair no rio. De qualquer modo, as perícias a serem realizadas e as investigações policiais iriam, mais tarde, apurar o que fato acontecera. Agora, era chorar pelo infausto acontecimento.
Só uma coisa continuava intrigando o Dr. Adolfo. Aquelas marcas na garganta do seu filho, que pareciam ser de dedos. Onde será que ele as obtivera? Teriam sido feitas antes ou depois do afogamento? Isso ele não soube explicar. Nem a polícia, nem os outros legistas que examinaram o corpo. Foi um mistério, enterrado com o infeliz rapaz.
O ciclista atropelado não morreu. Tornou-se um atleta pára-olímpico, que ganha medalhas nadando com um braço só. Quando lhe perguntam pelo acidente e como ele sente em relação ao sujeito que o aleijou, ele responde que não tem qualquer mágoa ou constrangimento por isso. Ele nunca soube quem foi que o atropelou e não estava preocupado com isso. Só dizia, com a certeza de quem realmente acreditava no que dizia, que a pessoa que decepou seu braço já tinha pago, e muito caro, pela maldade que cometera.
João Anatalino
Enviado por João Anatalino em 13/03/2013
Alterado em 25/03/2013