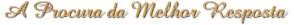|
|

OS MENINOS DA BRÁZ DE PINA
“ Nos áureos tempos, a rua era tanta;O lado direito retinha os jardins.”
Carlos Drummond de Andrade.
A rua era a Brás de Pina, também chamada da Lagoa Seca. Larga rua, rua velha, com suas casas ainda mais velhas, rua poeirenta e sem asfalto, calma e sem carros. Naquela rua, nos idos de mil novecentos e cinquenta e seis, os meninos podiam jogar taco. O jogo de taco é uma é espécie de beisebol caboclo, onde jogam quatro pessoas. São feitas duas pequenas casinhas de gravetos, semelhantes a duas pequeninas pirâmides, colocadas a cerca de vinte ou trinta metros uma da outra. Formam-se duas duplas. Uma delas são os rebatedores, outra os arremessadores. A dupla arremessadora deverá atirar uma bolinha (geralmente uma bolinha de tênis) contra a casinha. A dupla rebatedora deverá defender a casinha rebatendo a bolinha. Quanto mais forte a tacada e mais longe a bolinha for mandada, melhor, pois assim a dupla rebatedora poderá fazer mais pontos por tacada. O ponto consiste numa troca de posição entre um e outro rebatedor.
A rua Brás de Pina era ideal para esse tipo de jogo. Rua larga e pouco frequentada por automóveis, que eram raros naqueles dias. Poucos podiam se dar ao luxo de possuir um. As casas também ficavam longe da rua e raras eram as que tinham muros. Nada de janelas para quebrar nem cercas para pular quando a bolinha caia em algum quintal. Lá havia espaço e muitos garotos. Havia também vizinhos rabugentos. Nenhum deles gostava quando uma bola caia no seu quintal e atrás dela vinha um menino ranhento, sujo, suado e maltrapilho, batendo palmas no portão, pedindo para pegar a bola. Isso porque, se no quintal houvesse algum pomar em tempos de safra, com a bola sempre vinha alguma fruta... Era comum brincar na rua naqueles tempos. Raros veículos apareciam por lá para atrapalhar as brincadeiras. O que mais pintava no pedaço eram os velhos caminhões de ambulantes, com seus motoristas anunciando suas mercadorias com um megafone;― Olha a sardinha vivinha, dona Candinha!―Olha a melancia, dona Maria!―Galinha caipira, dona Mira!─ Linguiça fresquinha, dona Cidinha!
Na rua Brás de Pina era possível até jogar futebol. E a gente jogava. Organizava até torneios. Bola de meia ou de borracha. Vez ou outra aparecia uma bola de capotão, aquela pelota meio ovalada, que mais parecia bola de “rugby”, que tinha uma câmara semelhante a uma bexiga por dentro da cobertura de couro, que a gente amarrava com cadarço. Parecia com aqueles espartilhos que modelavam a cintura das nossas avós.Os meninos eram tantos que às vezes a gente fazia até campeonato. A taça era uma dúzia de bananas. Formávamos times de 15 contra 15 e ás vezes até mais. O jogo durava a tarde inteira. Quando estávamos cansados e resolvíamos parar o jogo, (quase sempre porque o dono da bola tinha que ir embora porque que a mãe chamou), alguém gritava: ― Quem fizer o último gol ganha!Então todo mundo corria para marcar o último gol. Mas Quem marcava ganhava, mas nunca levava a “taça”. Fosse por que uma dúzia é menor que quinze, ou por que todos estavam com fome, ou pelo fato de ninguém se conformar em perder, na briga para ficar com as bananas, as pobres frutas eram esmagadas e pouca coisa sobrava delas. Ás vezes era o menino que estava mais próximo do pacote que saia correndo com elas e todo atrás dele.
“ Na velha rua Bráz de Pina, Rua larga, sem o asfalto Que quando chega traz os carros,Os meninos estão brincando.Seu Antônio está olhando.
O Nelsinho bateu com força.A bola caiu no Seu AntônioAquele que compra sucata.Seu Antônio, furou a bolaE acabou com a mamata.
Domingo é dia de jogar contra.Vale uma dúzia de bananas.Tem que marcar o CanelinhaE pegar firme o Celsinho.Mas se o goleiro deles é Zé MelecaEntão dá para ganhar.Porque a gente tem o NeguitinhaE o Bastiãozão também irá.
Na velha rua Bráz de Pina, Rua Larga, rua calma,Tem poeira levantando, Não são meninos a brigar;
É o velho Ford do Franz Steiner,Que passa tossindo, avisando,Que o progresso está chegandoE a farra está para acabar.
Mas a rua Bráz de Pina não tinha só meninos. Havia meninas e as brincadeiras delas.
“― Ciranda, cirandinha,Vamos todos cirandar,Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar...”
Menino não brincava com menina. Quando algum garoto mais corajoso entrava na roda das garotas, os outros meninos começavam a cantar:
“― Ciranda, cirandinhaTerezinha, amarelinha,Quem brinca com meninaUm dia vira mariquinha!”
Mas apesar da vergonha que a gente tinha de brincar com meninas, todos os meninos queriam entrar naquela roda para pegar na mão de certa menina. Isso porque todos já tinham as suas namoradas secretas, já tinham, de alguma forma, feito a sua escolha. Só elas é que não sabiam disso. Um dia uma menina de óculos veio morar naquela rua. Sua família ocupou o único sobrado daquele quarteirão e ela ficava todos os dias na janela espiando a molecada brincar. Jamais se misturou ás outras meninas do bairro e nunca se deu ao luxo de pelo menos, olhar para um dos meninos. Mas ficava horas olhando a gente brincar na rua, e tenho certeza que morria de vontade de entrar na roda. Mas ela era a “menina rica” do bairro. Nunca se vira uma menina de óculos por aquelas bandas. Logo ganhou o apelido de “a quatro olhos do sobrado”. Tinha uns doze anos talvez. Usava longos cabelos, negros e escorridos. Tinha umas pernas grossas e bem feitas, que sobressaiam da saia curta, engomada. Mantinha um narizinho empinado toda vez que passava em frente aos meninos.Eu nunca descobri o nome dela. Era a “quatro olhos do sobrado” e só. E como ela não nos dava bola, nós zombávamos dela, púnhamos apelidos, falávamos obscenidades, dizíamos gracejos. Isso quando estávamos juntos. Sozinho, ninguém tinha coragem de mexer com ela. E à noite, quando estávamos na cama, e ninguém via o que fazíamos, e ninguém desconfiava no que estávamos pensando; quando se arrependíamos das coisas que não fizemos durante o dia, quando lamentávamos o soco que não demos no nariz do desgraçado que xingou a nossa mãe; depois de repassar as aventuras do dia, fazendo melhor o que se não se fez direito, adivinhem em quem a gente pensava: na “Quatro Olhos do Sobrado”. Sim. Eu sei que todo mundo pensava nela. Eu pelo menos confesso que pensava. “Quatro olhos” coisa nenhuma! Ela era tão bonitinha. Tinha o rosto de uma princesa. Em baixo daqueles óculos de lentes grossas e aros esquisitos, eu via o par de olhos azuis mais bonitos do mundo! E nos meus sonhos eu não era um garoto sujo, feio e maltrapilho, deitado sobre um imundo colchão de capim, (cortiço fedorento onde se hospedavam miríades de pulgas nojentas, cujo único objetivo era chupar-me o sangue ralo e insipiente), manchado com tudo que era secreção humana. Eu me tornava um Lancelot montado sobre um fogoso corcel, lutando pela minha amada princesinha de óculos. E eu sempre vencia. E ela sempre me olhava com aqueles olhos de donzela medieval, ternos, castos, amorosos, olhos de dádiva, olhos de prêmio...― Sou tua, meu príncipe: toma-me porque me ganhastes!Mas o que se faz com uma menina de doze, quando se tem treze anos? A libido só conhece o caminho da mão. E é por ai que se busca a recompensa. Mas ainda não se tem material suficiente para obter satisfação completa. Então as imagens se fundem numa bola que é atirada numa vidraça. Os vidros se partem em mil cacos, e eles são os óculos da “Quatro Olhos”. Ela joga uma pedra em mim. A pedra bate no meu peito e machuca. Sinto a picada. Dói. Levo a mão onde a pedra bateu e capturo uma pulga gorda; na casa ao lado, paredes meias, feita de barro e taipa, alguém está falando alguma coisa. Presto atenção para ver se não estão falando mal de mim. Escuto a moreninha Olinda, mulatinha de pernas grossas, que mora do outro lado da rua, falando uns troços que eu não consigo entender, mas sei que tem algo a ver comigo, por que nos lábios dela eu vejo aquele sorriso sem vergonha e zombeteiro de quem me pegou fazendo alguma coisa feia...
“ Olinda, Linda, mulatinha,Das pernas grossas e roliçasMelhor amiga da minha irmãJamais vai ler estes versinhosPorque jamais aprendeu a ler.A menina de óculos do sobrado, O primeiro da Bráz de Pina, Talvez leia. Mas se ler não saber,Que foi a grande responsável Pela minha primeira floração.E eu nem soube o nome dela.
E o quarto navega. Não é num mar de água, sal e céu. É um rio de sol, poeira e sangue, que passa por bueiros e depósitos de lixo, cheio de sucatas e ratos do tamanho de uma bola de futebol. Eu chuto um deles e ele cai no rio. Mas não é um rato, é uma bola de futebol. O meu amigo “Vaca-Mão-Nega” pulou no rio para pegá-la, afogou-se morreu. E a bola não é bola, porque se transformou em uma bexiga de mortadela que nós roubamos no Mercado Municipal. Correm atrás de nós. Jogo para ele a bexiga e a bexiga vira uma pipa que sobe. Alguém lhe corta a linha. A pipa, que virou um balãozinho lozango, caiu no quintal do Seu Antônio do Ferro-Velho. Ele, ao ver a pipa caindo, para de tocar a sua tuba e a aponta a boca daquele troço para mim. Da boca da tuba sai uma descarga de sal grosso que acerta na minha perna direita. Ela queima, queima, queima...
Daquele menino que pescavaNa Boca do Cano do Tietê,Hoje ninguém se lembra mais.Exceto talvez os seus parentesQue até hoje não entendem Que o zelo pela lei municipalValesse a vida de alguém.
Do soldado que matou o meninoQue pescava na Boca do CanoNinguém se lembra mais.Talvez tenha progredido na carreiraE se tornado coronel.
O Tietê também morreu,Mas a lei não castigou o assassinato ecológico.E o menino que pescava na Boca do CanoMorreu porque tirou um peixeDo rio que hoje não tem mais peixe algum. [1]
Grito! Acordo segurando uma enorme pulga. Depois de ter convenientemente chupado meu ralo sangue, deixando um pequeno hematoma na minha perna, ela parece aturdida pela enormidade do crime que cometeu. Apavorada pelo castigo que a espera, parece que ela quer pedir perdão. Não amoleço. Esmago-a entre as unhas dos polegares, que ficam rubros com o sangue que espirra. Não sei se a pulga é macho ou fêmea, mas eu a chamo de Nelsinho, e eu te mato, te mato, desgraçado... Com as mãos sangrando, pego a bolinha de camurça e a atiro com fúria contra a casinha de barro e taipa, que cai com um estrondo. E aí eu pego o taco e coloco entre as pernas e digo: ― Vem.Ninguém veio, mas a menina de óculos do sobrado está olhando com ar de desdém e a mulatinha Olinda está sorrindo aquele sorriso sem vergonha. E surge então aquela vontade incontrolada de mijar. A cueca parece uma tenda armada no púbis ainda imberbe. A privada fica no quintal, a uns vinte metros da casa. Está escuro e eu tenho medo dos espíritos da noite. Sempre achei que existia uma assombração morando no milharal da Dona Maria Velha, que fica no fundo do quintal. Com medo, giro a taramela da porta da cozinha e mijo ali mesmo. Ninguém viu. De volta à cama, penso na loura- vampiro que dizem andar por ai.[2] Cubro a cabeça para me esconder. Aí alguém que se parece com o Jesus do retrato da parede rola uma bola de capotão para eu chutar. Chuto e a bola cai lá no campo do Sete de Setembro. Hoje é sábado e amanhã é domingo.
“ Hoje tem festival de futebol No campo do Sete de Setembro.(Auto Escola Santa Teresinha).A Vila dos Pobres também fica ali.A Maria Coça-Coça mora lá.Todo dia dá um show para a molecada.Lá também mora o Capeta. E o seu Camilo Machado CabralÉ que comanda tudo aquilo.[3]
Mas o Neguitinha puxou a saia da Coça-Coça. Ela soltou um palavrão e saiu correndo atrás de mim. Subi num pinheiro que havia em frente á fabrica de móveis Padovani. Maria Coça-Coça se transformou em um urso cinzento, igual ao que eu havia visto numa seção “Pif-Paf” no Cine Odeon. Ela começou a sacudir a árvore. Um monte de peras carnudas caiu no chão. Enchi minha camisa com elas e o urso que era a Maria Coça-Coça continuou a correr atrás de mim, mas já não era um urso, mas sim o “Seu Horácio de Oliveira”, dono daquele quintal ali na Avenida grande, onde havia umas pereiras que todo ano carregavam. Um sujeito passou de bicicleta pela rua e me chamou de predador, porque eu estava cortando um pinheiro para fazer traves para o nosso campinho de futebol.
“ Cortei um dia um pinheiro Para fazer trave para o campinho.Um cara me chamou de predador.Eu pensei que a minha mãe Tinha algo a ver com isso.E comecei a desconfiar do caraPara quem ela lavava roupa.”
E eis-me na rua empurrando um enorme carrinho de roupa lavada, que de repente, não é roupa, mas lata velha, ferro, papel, vidro quebrado, sucata de tudo quanto é tipo, que eu juntei para vender para o “Seu Antônio do Ferro-Velho”. Estou fumando um cigarro.
“Catei bituca, fiz um cigarroEmbrulhado em papel de pão.Naquele dia ninguém me disse Que fumar provocava câncer.Fumei, gostei, fumei muitos anos,Especialmente quando queria ser alguém.Com o primeiro dinheiro que ganheiVendendo ferro velho pro Seu Antônio,Comprei um “Mistura Fina”. Foi assim que eu me descobriComo alguém que descobre as próprias mãos.”
E aquela mão que parecia igual á do “Homem de Borracha” [4 fechava o gol, tirava os óculos da menina do sobrado, afagava as coxas grossas da mulatinha Olinda. As minhas mãos eram grandes, o meu taco era enorme. E eu batia na bola com aquele taco e o esfregava e torcia. Todos temiam aquele taco, mas também ficavam fascinados por ele, porque ele era batata doce, pinhão assado e cigarro “Continental ou Mistura Fina” e estava ao alcance da mão. E a Faustina, aquela moça que era minha vizinha, olhava e ria.
“Do alto do barrancoA casa velha espia a rua.Dona Maria espia o tempo. O povo espia a filha dela.Faustina casa ou não casa?Já está com outro namorado.Dona Maria espia as outras moçasSó não espia a filha dela.A vizinha espia a Faustina,Eu espio o pinhão assando no fogão de lenha,Dona Maria velha espia a minha mão.Faustina, afinal, se casou com o Frederico.”
Cortaram a minha mão! Não, não foi a dona Maria Velha! Foi a minha mãe!― Por que, mãe?― Para que não tire mais pinhão do fogo nem fique pegando nesse taco. O sangue pinga da mão decepada. Os pingos da chuva sangrenta desenterram meu pai, há pouco deitado em cova rasa no cemitério do hospital Santo Ângelo, em Jundiapéba.
“Meu pai morreu em mil novecentos e cinquenta e seis.Depois dele logo foi o meu avô.Foi como se um tivesse chamado o outro.Não me lembro de ter chorado. Não conheci bem nenhum dos dois.Depois, ninguém chora aos treze anos.Nessa idade a morte é só uma oportunidadePara tomar café com biscoito de sequilhos.”
Meu pobre pai era um lavrador semianalfabeto que pegou doença ruim e teve que ser internado no Santo Ângelo. A única lembrança que tenho dele é uma estória que ele me contou um dia, antes de ser internado. Era uma estória sobre um cara que comprou um monte de livros sem ao menos saber ler. Tratava-se de uma coleção de livros chamado o tesouro de Bersa. Comprou porque o vendedor lhe prometera que se ele conseguisse ler todos aqueles livros ele iria adquiri um tesouro incalculável que o deixaria rico para sempre. Então, para justificar o investimento, ele entrou numa escola para aprender a ler. Aprendeu e daí começou a ler os livros que comprou. Mas eram livros que falavam de coisas que ele não conseguia entender. Então, para entender os livros que comprara, ele resolver estudar mais. Fez ginásio, colegial, faculdade, mestrado, doutorado. Tudo para poder entender o que estava escrito naqueles livros. Tornou-se mestre, doutor, conselheiro, intelectual respeitado em todo o país. Ganhou dinheiro, consideração e respeito. Esqueceu-se dos livros e do tesouro prometido pelo vendedor. Um dia encontrou o vendedor e o reconheceu.― Não que isso me interesse agora, mas estou curioso ― disse ele ao agora velho senhor que lhe vendera os livros. ― Que tesouro era esse que você me prometeu no final desses livros? Eu já os li um monte de vezes e até agora não encontrei coisa nenhuma.― Há muito tempo o senhor os encontrou ― disse o vendedor. Basta virar o título da coleção de trás para frente o senhor qual foi o tesouro que adquiriu. Ele o fez e soube que Bersa, na verdade, significava Saber.
[1] Em 1956 um menino de doze anos, que pescava na desembocadura do riacho Ipiranga com o rio Tietê foi morto a tiros por um policial da antiga Força Pública. Uma lei municipal proibia a pesca naquele local. A população da cidade provocou um motim, ameaçando inclusive invadir a delegacia local. O tumulto só foi resolvido com a prisão do policial e a sua remoção para outra cidade,
[2] A “loira-vampiro” é uma lenda urbana que foi muito divulgada em fins dos anos cinquenta. Diziam tratar-se de uma mulher loira que costumava atacar homens nos banheiros públicos para chupar o sangue deles.
[3] Sete de Setembro é o nome de um time de futebol muito conhecido na cidade nos anos cinquenta e sessenta. A “Vila dos Pobres” era o nome popular dado á Liga Humanitária, ONG que dava abrigo aos mendigos da cidade. Camilo Machado Cabral, dono de uma autoescola, era o presidente daquela instituição. “Maria Coça-Coça” e “Capeta” eram dois habitantes da Vila dos Pobres, que por sofrerem problemas mentais eram sempre motivo de brincadeiras por parte da garotada do bairro.
[4] “Homem de Borracha”, herói das histórias de quadrinhos, muito conhecido nos anos cinquenta.
João Anatalino
Enviado por João Anatalino em 21/05/2014
Alterado em 23/05/2014
|
|