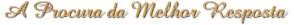CAPÍTULO 12
Minha mãe gostava muito da Rosana. Acho que era a única nora que ela gostava. Também a Rosana tinha aquele jeitinho de mulher que não dividia, apenas somava. Explico. Eu era o filho caçula da minha mãe. Ela teve oito filhos. Só quatro chegaram à vida adulta. Três meninos e uma menina. O meu irmão mais velho, Osvaldo, casou-se com dezoito anos, com uma menina que ele conheceu em uma plantação de repolhos, onde os dois trabalhavam e a minha mãe só veio a saber dela quando ele a trouxe para casa e disse que ela era a mulher dele. Era uma moça xucra de tudo, que em menos de três anos já tinha engravidado três vezes e perdido dois filhos, um com menos de um ano e outro dentro da barriga. Alguém disse para ela que crianças que morrem assim tão cedo viram anjos, e todo casal devia dar um de presente para Deus. E ela se sentia gratificada por isso. Por isso eu disse que ela era xucra.
Minha mãe, que também era analfabeta e havia perdido quatro filhos ainda na infância, para a malária, a varíola e a febre tifóide, segundo ela, também achava a menina xucra. E não gostava dela porque acreditava que ela judiava do meu irmão. Não sei avaliar isso, mas se tivesse que julgar, daria meio a meio para cada uma. Faria como Salomão: cortaria a disputa pelo meio e daria metade para cada uma. Aquela que renunciasse á parte dela ficaria com a razão inteira.
O fato é que a intolerância com essa minha cunhada durou a vida inteira. A vida inteira das duas, pois ambas já morreram. A minha mãe foi primeiro, e a minha cunhada apenas uns cinco anos depois. Mas enquanto viveram foi aquele relacionamento conflituoso de sogra e nora que mal se suportavam e só se falavam mesmo para simular uma educação que não tinham.
Já com o meu cunhado, um paraibano que se casou com minha irmã Matilda, as razões do desagrado eram outras. O sujeito era um cangaceiro aculturado. Minha irmã o conheceu na fábrica onde os dois trabalhavam. Ela tinha vinte anos e o maior desejo da sua vida era sair de casa e ter a sua própria família.
Não tiro as razões dela. Viver com a minha mãe não era fácil nem para nós, os meninos, quanto mais para uma menina como ela. Minha mãe tinha a cultura dela, herdada de uma infância e juventude passada longe da luz elétrica, dos bancos escolares, das conquistas mais elementares da civilização. Nascida no começo do século vinte, e criada num lugar onde o povoado mais próximo levava pelo menos cinco horas a cavalo para atingir, ela só podia passar para os filhos aquilo que havia aprendido aquilo que ela sabia.
Minha mãe nunca se deu bem com o meu cunhado. Eram dois bicudos que viviam em mundos diferentes sem saber o quanto tinham de semelhança em suas intolerantes visões da vida. Ele achava que mulher só existia para prover as necessidades de um homem, por isso a primeira coisa que fez foi tirar minha irmã do emprego e forçá-la a ficar em casa, servindo-o como se fosse uma criada sem salário, a seu serviço durante o dia cuidando da casa e das coisas dele e de noite satisfazendo-o na cama, pouco se importando se ela gostava ou não.
Mas devia gostar, porque logo no primeiro ano engravidou, e que eu me lembre, ela parecia estar feliz com tudo isso. E que eu me lembre ainda, nos dezoito anos que ela viveu com ele, a impressão que se tinha era que ela estava satisfeita. Até que um dia ela pediu divórcio, depois de três filhos e uma vida de doméstica sem qualquer garantia previdenciária. Enquanto isso, o meu então ex-cunhado já tinha se transformado num self-made-man de relativo sucesso, pois fizera um curso supletivo noturno e passara em um concurso público para escrivão de polícia. Depois se tornara investigador e por fim delegado de polícia. O antigo cangaceiro, como minha mãe o chamava, agora era o “chefe dos macacos”. E se antes ele foi um aprendiz de tirano, quando se tornou delegado, passou a ser o rei da arrogância.
Mas, como dizia, minha irmã não se incomodava muito com a vida que levava com ele até descobrir que o danado já estava na terceira amante. Aí ela pediu o divórcio. Foi uma briga para arrancar dele uma pensão miserável que mal dava para ela sustentar os três filhos, o mais velho deles, ainda um adolescente.
Já a segunda nora dela, uma moça chamada Marinete, essa, a antipatia foi coisa de entranhas mesmo. A moça também era nordestina e logo de cara ela falou que estava casando com o Tonico, meu irmão do meio, porque não queria passar o resto da vida trabalhando como doméstica. Se a vida dela se resumia em cuidar de uma casa, que fosse a casa dela. E azar do meu irmão se não conseguisse dar a ela tudo do bom e do melhor. Infelizmente ele não deu. Não tinha como dar. E então a doninha transformou a vida dele em um verdadeiro inferno. Por isso a minha mãe tinha por ela uma aversão que não conseguia disfarçar.
Já da Rosana ela gostava, como eu disse. Afinal, a Rosana nunca a chamou de sogra. Chamava-a de mãe. Afinal, Rosana perdera a própria mãe antes de nós casarmos. E durante os nossos três anos de namoro, ela praticamente morou conosco. Tratava a minha mãe como se fosse, de fato, uma filha dela. Levava-a ao médico, ensinou-a a soletrar e a assinar o próprio nome, dava uns trocos para ela por conta da roupa que ela lavava e passava para ela, e principalmente, o que mais a cativou, foi a forma como Rosana me tratava. Ela era meiga e cativante. Nunca reclamava de nada. Estava sempre alegre e com soluções viáveis para os problemas que se apresentavam. Não era a “mulher que veio tirar o filho dela”, mas sim a mulher que veio acrescentar alguma coisa na vida dele. Pelo menos era isso que ela dizia para os vizinhos e conhecidos dela, em oposição ao que dizia das outras noras e do genro, que, na opinião dela “eram atrasos na vida dos filhos dela.”
Rosana não. Ela era professora. Ela era inteligente. Ela era meiga e simpática. “ O Chiquinho (como ela me chamava) sim” dizia ela. “O Chiquinho teve sorte. Arrumou uma mulher que vale a pena”
(continua)
João Anatalino
Enviado por João Anatalino em 30/01/2018