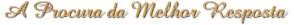UM BORRÃO NO ESPELHO
Hoje eu acordei com a impressão de que alguns escotomas se formaram no campo da minha capacidade perceptiva. Escotoma é um termo de medicina oftalmológica que designa uma falha no nosso sentido visual, que impede que vejamos objetos que estão exatamente em nossa frente. É como se tivéssemos um borrão nos olhos , que cobre um pedaço do nosso campo de visão. Esse termo também é usado no campo da psicologia para explicar aquelas falhas de percepção que às vezes nos acomete em situações de muito estresse, intensa emoção ou mesmo quando estamos demasiadamente focados em um assunto. Nessas situações, não conseguimos ver coisas que estão diante do nosso nariz.
Escotomas são como manchas em um espelho. Escondem partes de nós mesmos, justamente aquelas que não queremos ver. Parece que há alguns escotomas no meu campo de percepção que me impedem de recompor a minha própria identidade. São como manchas no espelho da minha existência, que ocultam partes de mim e não deixam que eu me veja por inteiro. Sei que há coisas que integram a minha vida, coisas que eu vivi, que são minhas, mas eu não consigo recompor inteiramente o que são, na sua essência, e assim parece que estou sendo esvasiado como um recipiente de onde o contéudo está sendo tirado aos poucos, sem que eu possa fazer nada para impedir. É uma sensação aterradora.
Não, eu não sofro do mal de Alzheimer. Não sou tão velho para isso, embora a questão da idade não seja impedimento para que alguém contraia essa doença. Estresse também causa perda de memória e estresse é o que mais tenho tido nestes últimos tempos. Mas o fato é que eu estou sentindo que falta uma parte das minhas funções cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), como acontece com as pessoas que sofrem desse mal. E isso me incomoda, porque parece que estou perdendo algo muito, muito importante, praticamente irrecuperável.
O gozado é que, junto com essa preocupação, eu sinto também uma indefinível sinestesia, na forma de um peso que me oprime a consciência, toda vez que tento recompor essas memórias. Não consigo reconstruí-las nos seus contextos visuais e auditivos, mas posso sentir que elas pesam e tem uma temperatura, pois cada vez que tento acioná-las sinto a pressão que elas fazem no meu cérebro e no coração, e um frio que me enregela os nervos e os ossos, como se eu estivesse preso em um iglu no Pólo Norte e não no quarto de uma cidade de um país tropical como o nosso, onde a temperatura nunca desce a menos de dez graus positivos.
Minha mãe entrou no quarto para me dizer que o café está na mesa. É estranho. Tenho a impressão que não vejo minha mãe há muito tempo. Mas também não lembro se há um hiato de tempo entre a última vez que a vi e agora. Se foi há um mês, um ano, ou muito mais que isso. Mas algo me diz que já passou muito tempo sem que eu a tivesse visto. Mas ela está ali, na porta do quarto, como também me parece que sempre esteve, me chamando para tomar o café da manhã.
Minha mãe. Onde será que ela esteve todo esse tempo, que eu sinto que foi tão longo, ainda que eu não consiga mensurar? Ou terá sido eu que me ausentei por uma longa data e só agora voltei? Só sei que houve essa separação, mas agora não consigo me lembrar quando foi e quanto tempo durou. Tudo está tão difuso e despregado em minha mente...
Urinar, escovar os dentes, tomar uma ducha, fazer a primeira refeição do dia. Pergunto-me se essas coisas são mesmo necessárias ou se as fazemos por força do hábito. Aliás, também não sei por que faço essas perguntas. Ou melhor, sei. Faço porque essas ações não me causam prazer algum. Elas surgem em mim como algo que eu sempre fiz e preciso, por algum motivo, fazer.
Alguma coisa me diz que em tempos passados, a satisfação das necessidades básicas do meu corpo me causava prazer. Tomar uma ducha gostosa pela manhã, aliviar a bexiga e os intestinos, substituir o gosto amargo da boca matinal por um sabor de menta ou hortelã; um café com leite quentinho, uma torrada com geléia de morango e uma fatia de queijo Minas. Era tudo de bom. Reconfortante, prazeroso. Mas hoje...
Nem a presença do meu pai na cabeceira da mesa me ajuda a entrar na inteira compostura do meu ego. Aliás, o meu pai é outra questão que me intriga. Ele está ali, sorridente e bonachão como sempre foi, mas há alguma coisa nele que não se encaixa. Por que ele está ali se eu sei que faz muito tempo que ele não está ali?
Meus sentimentos com relação a ele são mais confusos do que em relação à minha mãe. Tenho certeza que ele me ama e eu não duvido do meu amor por ele. Mas tenho reservas com relação a isso. Tenho uma vaga impressão de que houve algum constrangimento entre nós, mas eu não consigo lembrar o que foi. No entanto, deve ter sido alguma coisa séria porque eu não consigo separar o amor que sinto por ele da repulsa que parece entranhada em mim em consequência de alguma coisa que ele me fez, mas eu não sei o que foi. Existe alguma coisa entre nós que nos impede de nos fundirmos em um abraço de pai e filho, embora esse seja o desejo que eu vejo nos olhos dele e esse também seja o anelo do meu coração.
Minha mãe é algo diferente. Toda vez que olho para ela sinto um aperto no coração, como se ele estivesse sendo esmagado por uma morsa, e não consigo evitar as lágrimas que me vem aos olhos. Não sei o porquê desses sentimentos, mas sei que já os tive um dia, e que eles foram tão fortes que ficaram impregnados em meu sistema neurológico para sempre. É o sentimento de perder alguém a quem se ama profundamente.
Mas ela está aqui, comigo, como parece que sempre esteve. O sorriso calmo, confortante, confiante; o olhar amoroso, que sempre me deu forças para lutar e vencer qualquer obstáculo, ainda é o mesmo. E quanto mais a olho, menos entendo esse sentimento arrasador de perda, que sinto ao olhá-la. Como pode ser isso? E que diabos é isso que está acontecendo comigo?
Sim. Eu sou um escritor. E por ser escritor devia estar de posse de todo o meu senso crítico e minha capacidade de análise. Senão, como posso criar personagens e dar-lhes uma vida se eu já não tenho controle nem das minhas próprias impressões? Todos os meus personagens nada mais foram que meus “eus’ desdobrados. E agora eu me sinto como uma centelha de energia desprovida de qualquer forma e essência, como alguém que não deveria estar onde está porque não pertence mais a aquele lugar...
Alguém está entrando em casa. Escuto o girar da chave na fechadura. Não me lembro de ninguém que tivesse a chave da nossa casa. Nunca tivemos empregada. Minha mãe cuidava de tudo nela. E eu nunca tive irmãos. Quem é que tem a chave da nossa casa e pode entrar nela assim, tão livremente, sem pedir licença? Olhei para meu pai e minha mãe. Queria perguntar se eles haviam contratado alguma empregada nesse tempo, que, ao que parece, eu andei ausente. Mas eles pareciam tão sossegados e tranqüilos como se aquilo fosse uma coisa muito normal.
Ah! Agora já sei por que para eles parece normal. Afinal, quem entrou na casa foi meu filho Walter, minha filha Priscila e a minha mulher, a Vilma.
Engraçado. Só agora me dei conta que eu sou casado. E que também já faz tempo que casei. Havia me esquecido disso, como também de que tinha dois filhos. E bem grandinhos já. Walter é um sujeito já adulto e Priscila uma baita moça. Bonita de encher os olhos. Vilma, minha esposa, é que parece estar meio passadinha. Nos olhos tristes, na pele sem brilho, na postura cansada, é possível ler a vida de uma mulher que parece ter sofrido recentemente um grande baque emocional. Eu compreendo isso, eu até sinto que sei o que foi, mas não consigo montar a memória desse acontecimento de uma forma lógica e completa, de maneira que eu possa entender e dizer exatamente qual foi o fato que a deixou assim, tão triste e desconsolada.
Ela olhou para nós de uma forma esquisita e pensativa. Era como se não estivéssemos aqui. Sequer respondeu ao “oi querida” que eu lhe dei quando ela entrou. Compreendo. Foram tantos “ois” pela vida inteira, que ela talvez já não sinta necessidade de responder. O hábito faz isso conosco. A gente acha que o outro entende tudo sem que nós precisemos falar. Ela olhou para mim e deu apenas um leve sorriso, um sorriso de quem se recorda de alguma coisa que a fez feliz, mas que agora já se perdeu.
Meus filhos então nem sequer deram ao trabalho de olhar para mim e me cumprimentar. Nem para os avós. Também não acho estranho esse comportamento deles. Eles sempre foram meio malcriados mesmo. E nosso relacionamento nunca foi muito bom. Essa é uma das causas do meu estresse. Filhos, como disse o poeta, é melhor não tê-los; mas se não tê-los, como sabê-los?
Eles passaram por mim como se eu não estivesse ali. Foram logo entrando nos quartos, olhando a mobília, os quadros nas paredes, a louça na cozinha. Parece que nem se deram conta de que nós estamos aqui.
̶ Esta geladeira está nova. Vou levar ela para o meu apartamento na praia –, disse o meu filho Walter
̶ Pode levar – respondeu Priscila. – Mas a louça, a prataria e essa cristaleira eu quero para mim. A louça é nova. A mamãe renovou tudo não faz dois anos. E essa cristaleira é uma obra de arte. Não se fazem mais móveis assim hoje em dia.
̶ Levem o que quiserem, mas tirem logo isso daqui, porque o comprador disse que quer se mudar o mais rápido possível para cá ̶ disse Vilma, a minha esposa.
̶ Ainda bem que conseguimos vender esta velharia bem rápido – disse Walter. – O mercado imobiliário não está fácil.
Não gostei da forma como ele falou da nossa casa. Está cer-
to, é uma casa antiga, mas velharia é um termo pejorativo que me ofende. Se ele não fosse um homem já formado, eu daria umas palmadas na bunda dele, como fazia quando ele era pequeno.
̶ Também, uma casa como esta, no centro da cidade, num local tão valorizado, vendida por um preço tão baixo, quem não iria querer? – disse Wilma.
̶ Como? Vocês venderam a nossa casa? A casa que os meus pais me deixaram? – perguntei, espantado, pois não estava entendendo nada.
Wilma olhou para mim com um olhar inexpressivo, como se estivesse olhando para o lugar onde eu sempre sentei e não para a pessoa que eu era. Pensei ver uma solitária lágrima rolando dos olhos dela.
̶ Afinal, foi um bom negócio – ela disse, com um suspiro e
limpando a lágrima com as mãos, como se tivesse falando para si mesma e não comigo.
– Eu não ia saber o que fazer, sozinha, numa casa tão grande. A minha parte vai dar para comprar um apartamento pequeno. E a parte de vocês vai ajudá-los a resolver seus problemas – se tiverem juízo ̶ disse ela olhando para os meus filhos, que concordaram com um aceno de cabeça.
̶ Agora vamos embora, crianças – disse Wilma.
Crianças. Agora me lembro. Ela ainda os chama assim, embora Walter já tenha passado dos trinta e Priscila já tenha vinte e cinco.
̶ Vamos – disse Walter. – Já são nove e meia e a missa de sétimo dia do papai é as dez – completou ele.
Missa de sétimo dia? Olho para o meu pai e vejo agora que a sua figura está difusa e estranhamente coberta por um véu de cores opacas e translúcidas, como um arco-íris desbotado. Ele sorri para mim, um sorriso condescendente, como aqueles que ele me dava quando eu cometia alguma travessura. Minha mãe também está me olhando com olhos baços e amorosos, como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa e sofrida ausência. Seu vulto também está coberto por um véu de cores iridescentes e etéreas, como se fosse um holograma projetado a partir de um caleidoscópio.
̶ Sim, filho. É isso mesmo – Disse ela, com a voz suave e amorosa que ela sempre me falou quando eu tinha as minhas dores de infância. ̶ Você agora está no nosso mundo e não mais no deles.
Então eu me lembrei de tudo. Aquela martelada no peito, que pareceu ter arrebentado meu coração; aquela dor insuportável; a vertigem instantânea e inevitável que tomou conta de mim; a sensação mortal do frio que invadiu meu corpo como se eu tivesse sido mergulhado em um tonel de gelo; a escuridão, a treva espessa, impenetrável, de um túnel que parecia não acabar nunca mais. Uma ambulância com sua irritante sirene ligada, furando filas de trânsito e passando sinais vermelhos; uma cama de hospital, pessoas vestidas de branco colocando atabalhoadamente um monte de aparelhos no meu corpo; depois o silêncio sinistro e constrangedor, que parecia o de um bando de torcedores fanáticos cujo time havia perdido uma final de campeonato. E eu vi, enfim, um corpo em cima de uma maca, deitado, imóvel, rígido, numa câmara tão fria quanto a geladeira de um açougue.
̶ Não, não pode ser! – Gritei. E foi que então que as respostas me vieram, como ondas chocando-se contra os rochedos na praia. Meus pais já haviam morrido há muitos anos. Aquela casa tinha sido a única herança que eles haviam deixado para mim. Ali morei mais de trinta anos. Ali construí a minha família. Agora ela estava sendo vendida. Olhei para meu pai e minha mãe. Eles não eram agora mais que um borrão de tintas misturadas em uma velha tela esmaecida e descoloridas pelo tempo. Mas sorriam com um sorriso bonançoso de pessoas que estavam esperando a volta de alguém há muito tempo.
Mas eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não, não, não, não podia ser verdade. Então levantei-me daquela cadeira de alto espaldar, onde eu me sentei por trinta anos, e onde meu pai também já havia sentado, talvez por mais tempo ainda e olhei o meu reflexo no espelho da cristaleira. E o que vi foi apenas um espectro coberto por um véu de cores iridescentes e etéreas, como se fosse uma irisação projetada a partir de um caleidoscópio. E foi então que aqueles lapsos de memória, aqueles pequenos escotomas, de repente se juntaram numa só mancha extremamente escura, que se espalhou pelo espelho, como se um vidro de tinta preta tivesse sido derramado sobre ele. Então eu soube finamente que não se morre enquanto não se toma consciência da própria morte. E ao ter, finalmente, a certeza de que estava morto, mergulhei naquelas profundezas trevosas onde nenhuma memória poderia mais ser recuperada.