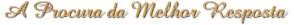MEUS DIAS DE PABLO NERUDA E GERALDO VANDRÉ
“ Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo”.
Geraldo Vandré
Meu primeiro encontro com a poesia aconteceu numa fria madrugada de junho de 1963. Eu era um jovem de dezoito anos, operário de uma metalúrgica. Estávamos na porta da fábrica onde eu trabalhava, às 5 horas da manhã, em volta de uma fogueira que havíamos acendido para nos esquentarmos. Estávamos em greve e esperávamos as instruções dos líderes do sindicato para formar os piquetes. Um dos companheiros havia trazido um livro de poesias de Pablo Neruda. Pedi para ver. Li o primeiro poema.
“Recordarás aquela quebrada silenciosa
Onde os aromas palpitantes subiram
De quando em quando um pássaro vestido
Com água e lentidão: traje de inverno.
Recordarás os dons da terra,
Irascível fragrância, barro de ouro,
Ervas do mato, loucas raízes
Sortílegos espinhos como espadas.
Recordarás o ramo que trouxestes
Ramo de sombra e água e silêncio
Ramo com uma pedra de espuma.
E aquela vez foi como sempre e nunca;
Vamos ali onde não se espera nada
E encontra-se tudo que não está se esperando.”
A nossa greve fracassou. Eu esperava tudo daquele movimento e só achei o que não estava esperando. Fiquei desempregado e marcado como agitador. Por mais de três anos não consegui encontrar outro emprego com carteira assinada. Em todo lugar onde eu ia procurar trabalho, alguém apontava para mim e dizia: esse é do sindicato. Eu não era, mas fiquei marcado como agitador e comunista.
Aliás, esse termo era sinônimo de poeta naqueles anos de chumbo. Para sobreviver virei DJ num parque de diversões. O termo não era esse, mas sim locutor de parquinho mesmo. Foi legal, porque pude combinar a música com a poesia. Tocava as canções que rapazes e moças pediam e de quebra enfiava uns versos no meio delas.
Virei atração na cidade. Cidade pequena, poucos lugares para as pessoas irem, muita gente vinha ao parquinho só para ouvir as músicas que eu tocava e os poemas que eu recitava. Pediam para eu fazer versos para a pessoa que elas queriam conquistar. Eu fazia, escolhia uma música adequada, recitava os versos e oferecia para a pessoa em questão. “ Esta música Fulano oferece para Fulana, a garota de vestido vermelho que está....”
Ainda posso ouvir Dilermando Reis tocando Abismo de Rosas e eu recitando o arremedo de soneto que havia escrito para aquela menina que havia encantado o coração do rapaz que me pagara para compor os versos e tocar a canção que a acompanhava.
“Algo de teu procuro em todas as mulheres,
Que vejo nos ônibus, nas ruas e nas praças.
Os olhos, cabelos, o perfume que preferes,
A emoção que sempre fica quando passas.
Em uma delas imaginei reconhecer a boca;
Cereja laqueada em mel, a rubra guloseima.
Em outra os mesmos pés, as mãos, a roupa,
Tudo aparências alimentando minha teima...
Em algumas quase reconheci as tuas linhas,
Mas não tinham o acabamento de um artista
Nem as orelhas que copiastes às conchinhas.
Agora sei que se Deus fez alguém igual a ti,
Como eu, Ele também é ciumento e egoísta,
Pois que deve ter guardado somente para Si”
.
Geralmente dava certo. O garoto ganhava a garota com os meus versos. Ajudei muitos rapazes e moças a realizar suas conquistas. Formei alguns casais que se transformaram em famílias.
Antecipei o estilo que fez o Hélio Ribeiro ficar famoso. Pegava músicas estrangeiras, pedia para uma professora de inglês, amiga minha, traduzir, e transformava as letras em poesias dedicadas à esta ou aquela garota, ou este ou aquele rapaz, tudo a gosto do freguês ou freguesa que me pagava. Foi assim que me apaixonei pela poesia e também arrumei as primeiras namoradas.
Inclusive a mãe das minhas filhas.
Mas em 1968 o pau quebrou feio. E eu não sabia ficar quieto. Escrevi alguns artigos para um jornalzinho do sindicato dos metalúrgicos da minha cidade e acabei entrando para o rol dos indesejáveis. Morava em uma cidade pequena. Era fácil localizar alguém lá. Recebi alguns recados preocupantes e resolvi me mudar para São Paulo. Fiz um curso de madureza e me tornei apto para entrar numa faculdade.
Consegui entrar numa delas para estudar economia. Era o curso da moda naquele tempo. Delfim Neto, Roberto Campos, Mario Henrique Simonsen etc. eram os nomes do letreiro.
São Paulo era cidade grande. É mais fácil se esconder no meio de muita gente. Mas logo vi que isso não adiantava muito. Eu atraia encrenca. Um dia, não sei porque, juntei-me com alguns colegas da faculdade e saímos pichando uns muros com frases contra o regime. Um pelotão de soldados a cavalo estava passando pelo local e arrebanhou a todos, levando-nos para uma delegacia do DOPS, que ficava ali no prédio da antiga estação ferroviária da Sorocabana. Nos três dias eu fiquei preso lá, toda manhã um cara passava com um cacetete batendo nas grades, dizendo: “Tomem cuidado moleques, para não amanhecerem com a boca cheia de formigas.”
Fiquei com medo e resolvi me mandar de São Paulo. Pensei em tornar-me hippie, pois essa era uma gente tolerada pelo regime. Só falavam de paz e amor, não se metiam em política, acreditavam, como dizia o Vandré, que a flor podia vencer o canhão.
Com essa ideia na cabeça comprei uma passagem de ônibus para o sul na antiga Rodoviária de São Paulo, que na época ficava ali na Luz. Enquanto aguardava a hora de embarcar entrei numa livraria, comprei o Canto Geral do Neruda. Li o primeiro poema.
“Antes do chinó e do fraque
Foram os rios, rios arteriais
Foram as cordilheiras em cujas vagas puídas
O condor ou a neve pareciam imóveis.
Foi a umidade e a mata, o trovão
Sem nome ainda, as pampas planetárias
O homem terra foi vasilha, pálpebra
De barro trêmulo, forma de argila
Foi canto caraíba, pedra chibba... (...)”
O ônibus deixou a cidade e o mundo foi girando nos pneus dele como girava nas patas do cavalo do Vandré. Naquela mesma semana ele havia sido preso e torturado por causa da sua ousadia em dizer que “ há soldados armados amados ou não; quase todos perdidos com armas na mão; para viver lhes ensinam antiga lição; de morrer pela pátria e viver sem razão.”
Era só poesia, mas os generais do regime temiam mais a poesia do que o fogo dos canhões. Armas podem ser destruídas, palavras só podem ser apagadas ou escondidas. As vezes nem isso. Em nenhum caso, elas podem ser mortas. Ressoam pelos corredores, espalham-se pelos quartéis.
“Eles não vão me pegar,” eu pensei, enquanto olhava as casas, os edifícios e as fábricas sendo substituídos na tela da minha janela por campos e plantações.
“E já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, do reino que não tem rei”, dizia a canção do Vandré. Incomodado, como nunca estive antes, li mais uns versos do Canto Geral.
“ Como a taça de argila era
A raça mineral, o homem
Feito de pedras e atmosfera
Limpo como os cântaros, sonoro, (....)”
Dormi. Sonhei que eu era um cristão fugindo de Roma em chamas. Estava andando por uma estrada ladeada por pinheiros altos e sombrios. De repente Neruda, ou Vandré, não sei bem qual deles era, me pergunta em latim: “ Quo Vadis, João?” Eu respondo: “Vou pegar minha viola e tocar noutro lugar”.
“Viola e poesia a gente toca em casa”, disse a voz.
Acordei. O livro tinha caído em baixo do banco. Estava aberto aleatoriamente em uma página qualquer. Li o verso na página aberta, ainda meio sonolento.
“Soldados de hoje, comunistas.
Combatentes herdeiros
Das torrentes metalúrgicas
Escutai a minha voz nascidas das galerias
Erguida à fogueira de cada dia
Por simples dever amoroso.
Somos a mesma terra
O mesmo povo perseguido
A mesma luta cinge a cintura
Da nossa América.”
A nossa América. Ela desfilava na janela do meu ônibus. Pastos com cupins e vacas; postes com fios pendurados; capões de mato aqui e acolá; montanhas altas, colinas baixas, rios arteriais e pequenos regatos que correm como veias da terra; árvores, casas, pessoas, o céu azul no horizonte. A América era a minha casa, a minha mãe com os olhos úmidos passando as minhas camisas e fazendo a minha mala, na noite anterior; eram os meus amigos do último abraço naquele bar lá de Perdizes; eram os olhos da namorada que eu talvez eu não visse mais. Chorei.
Quando o ônibus parou na primeira cidade eu resolvi descer. Algumas pessoas subiram nele. Eu fiquei, na pequena rodoviária, sozinho, silente e decidido. Duas horas depois estava em outro ônibus de volta para São Paulo. As pessoas estavam partindo, eu estava voltando. Eu não tinha mais medo. Voltei e continuei a minha vida do jeito que eu achava que tinha de ser. Terminei o meu curso, fiz outros, entrei para o serviço público. Continuei militando no sindicato e nunca parei de escrever o que penso e sinto. Nunca mais fui preso nem torturado por causa disso. A ditadura acabou e os soldados voltaram para os quartéis, onde sempre foi o lugar deles. Viraram história e esta não se odeia.Utiliza-se como aprendizado. Cada um deve fazer o que sabe fazer.
Descobri que só nos acontece o mal que a gente teme. E que viola e poesia se tocam em casa mesmo. Por simples dever amoroso.
NOTA: Crônica escrita em 1984- publicado no livro "Crônica da Cidade Amada", com o título de "Simples Dever Amoroso".